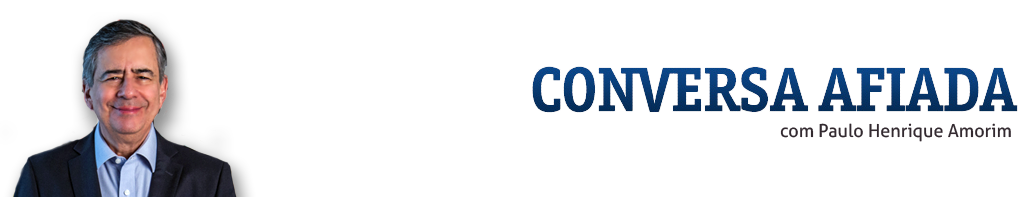O Conversa Afiada reproduz post da Carta Maior:
Jornalista que testemunhou e relatou o sequestro dos uruguaios em Porto Alegre fala sobre a Operação Condor no Sul do país e opina quanto à Comissão da Verdade. Em entrevista à Carta Maior, Luiz Cláudio Cunha diz que uma das coisas que o aflige é a "capa de indiferença da opinião pública e a bizarra cobertura legal que o Supremo Tribunal Federal dá à vergonhosa impunidade de torturadores e criminosos da ditadura".
Daniella Cambaúva e Waldemar José
Um telefonema quase ao final da tarde, em um dia de trabalho atribulado, talvez não tivesse se transformado em uma história emblemática das ditaduras militares do Cone Sul se o jornalista Luiz Cláudio Cunha, então responsável pela sucursal da revista Veja em Porto Alegre, não tivesse cumprido com sua obrigação básica de repórter: apurar uma denúncia.
Não fosse isso, talvez também pouco se soubesse hoje sobre o caso conhecido como “o sequestro dos uruguaios”, que sublinhou as ações da chamada Operação Condor – uma aliança orquestrada entre governos sul-americanos com o objetivo de coordenar a repressão a presos políticos vindos desses diferentes países. Ao todo, participaram da Condor Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Bolívia.
Cunha não apenas testemunhou o sequestro dos militantes uruguaios Lilián Celiberti e Universindo Díaz em solo brasileiro, como também se dedicou a apurar os detalhes do caso e a publicá-los durante quase 21 meses, em 86 edições da revista Veja. Após receber a denúncia anônima, foi ao apartamento em que Lilián estava detida, em Porto Alegre, e ao ser confundido com outro militante uruguaio, deparou-se com uma arma apontada a poucos centímetros de sua cabeça. Desfeita a confusão, foi liberado pelos agentes do DOPS, com a recomendação expressa de nada publicar.
Trinta anos mais tarde, ao rever todo o material, o jornalista acrescentou novos dados e fontes para recontar em 430 páginas O sequestro dos uruguaios: uma reportagem dos tempos da ditadura, livro publicado pela editora L&PM em outubro de 2008. E teve ainda de responder a processo movido por João Augusto da Rosa – conhecido como “Irno”, um dos agentes da repressão envolvidos no sequestro – sob a alegação de, entre outras coisas, usar “palavreado acusatório e ofensivo” nos textos. “Uma situação esdrúxula”, defende-se.
Atualmente, o jornalista dedica-se a escrever sobre temas relativos aos direitos humanos, tendo se tornado um dos críticos mais contumazes da Lei da Anistia – em sua opinião, “autoconcedida pelos militares a seus agentes e aprovada por um Congresso submisso” – e da consequente decisão de não julgar e punir os repressores brasileiros de outrora.
Seguem abaixo os principais trechos da entrevista concedida por Cunha à Carta Maior:
Quais são suas atividades atualmente? O senhor tem algum engajamento com atividades de defesa dos direitos humanos?
Faço o que sempre fiz: falo e escrevo sobre os temas mais candentes dos direitos humanos, no Brasil e no Cone Sul do continente, cobrando atitudes e personagens que ajudaram a cometer crimes de lesa humanidade nos períodos mais turbulentos das ditaduras militares da região.
O sequestro de Lilián e Universindo. Ainda hoje as imagens daquele episódio o atormentam?
Não me atormentam, apenas me lembram de minha obrigação permanente de denunciar e cobrar a responsabilidade de quem continua impune, principalmente no Brasil, um país omisso e inerte diante do terrorismo de Estado praticado pelo regime que mergulhou a nação em sua mais longa ditadura, entre 1964 e 1985. O que me aflige, na verdade, é a capa de indiferença da opinião pública e a bizarra cobertura legal que o Supremo Tribunal Federal dá à vergonhosa impunidade de torturadores e criminosos da ditadura, sob o pretexto de uma Lei de Anistia ilegítima, autoconcedida pelos militares a seus agentes e aprovada por um Congresso submisso, dominado pela legenda oficial do regime e amansado pelos atos de força que cassaram os mandatos dos parlamentares rebeldes e combativos, abastardando a representação popular e desfigurando a democracia.
Qual foi sua reação ao saber que um torturador o havia processado por, dentre outras coisas, usar “palavreado acusatório e ofensivo”?
Achei simplesmente ridículo. Típico de quem não sabe o seu devido lugar nessa história. O agente da repressão, que me apontou uma pistola na testa [quando Cunha chegou ao apartamento em que Lilián estava detida, em Porto Alegre], ousou processar o jornalista e testemunha de seu crime, na vã esperança de que pudesse, três décadas depois, em plena democracia, auferir alguma vantagem financeira do crime cometido em plena ditadura. Uma situação esdrúxula, que foi devidamente corrigida pela Justiça, ao jogar no lixo essa pretensão absurda. Insatisfeito, o sequestrador do DOPS ainda teve a coragem de recorrer à instância superior, onde foi novamente derrotado, por unanimidade.
Seu trabalho, na época do sequestro, colaborou para jogar uma luz sobre a Operação Condor?
O meu trabalho e o de toda a imprensa brasileira fizeram o que os agentes não queriam: escancararam o fiasco da Operação Condor em Porto Alegre, descrevendo os fatos e apontando os nomes de quem sempre agia nas sombras da clandestinidade, nos desvãos da ilegalidade, nos porões infectos da ditadura, que sempre se envergonha do que faz. O desastre da Condor no sul expôs seus marginais ao crivo da imprensa, da justiça e da opinião pública brasileira, merecendo delas a condenação que o aparato do regime não conseguiu evitar. Foi uma vitória da democracia e uma consistente reação de uma sociedade que aprendeu a reagir à violência oficial e a reclamar, com vigor cada vez maior, pelo Estado de Direito. A Condor, como a ditadura, já não tinha mais espaço para impor sua sombra sobre tanta gente, por tanto tempo.
O senhor chegou a dizer que a presença de militares na Comissão da Verdade pode atrapalhar o andamento dos trabalhos. Por que pensa assim?
O compromisso maior da comissão é o resgate da verdade e da justiça, sufocada durante décadas pelo regime de violência imposto pelos militares. Não faz sentido ter militares numa comissão que tem, como objetivo, investigar seus abusos e violências. A simples ideia da comissão infunde temores latentes na área militar, indício forte de que a caserna teme a eficácia das investigações. Não deveria ser assim, porque os militares de hoje nada têm a ver com os militares do passado que prenderam, torturaram, praticaram desaparecimentos forçados e assassinaram presos submetidos e indefesos. A melhor defesa que a atual liderança militar poderia fazer das Forças Armadas, agora, seria o pleno apoio à Comissão da Verdade, dissociando os militares democratas de hoje dos militares que torturaram ontem.
E qual sua avaliação geral sobre a Comissão da Verdade, da forma como está estabelecida?
Existe muito pessimismo sobre o alcance efetivo da Comissão, que tem uma estrutura precária, um tempo escasso e um trabalho portentoso para traduzir, com fatos e evidências, o real significado de uma ditadura de 21 anos. A pressão militar ampliou o escopo da comissão para um prazo ainda mais dilatado, entre as Constituições de 1946 e 1988, numa cínica artimanha para diluir a investigação sobre 42 anos de história brasileira, fingindo desconhecer que o objetivo central da Comissão são os crimes de lesa humanidade cometidos no período definido da ditadura imposta em 1964 e agravada em 1968. Mais do que isso, o pré-requisito para os sete integrantes da Comissão da Verdade revela uma ambição desmedida. Exige-se de seus integrantes a virtude da isenção e da imparcialidade. É uma condição impossível de ser atendida por 190 milhões de brasileiros. Ninguém pode ser isento diante da tortura, ninguém deve ser imparcial perante a ditadura. Só um cínico poderia alcançar esta proeza.
Em sua opinião, os oposicionistas que lutavam contra o regime militar e que cometeram “crimes” como expropriação e sequestro, por exemplo, devem ser julgados?
No Brasil, até na esfera política e nos espaços da mídia, existe uma calculada distorção e uma intencional desordem na definição de “guerrilheiros” e “terroristas”. A juventude deste país, onde residia a força maior da oposição, poderia ter calado, ter sufocado, ter consentido com o que se fazia e desfazia nos anos mais duros da ditadura. Para protestar, ela buscou as ruas, as escolas, os parlamentos. Quando esses espaços foram cercados, ocupados e desfigurados pela força, os jovens foram obrigados à resistência e ao confronto extremo. Uma parte deles assumiu o risco da luta armada e da guerrilha, nas cidades e no campo. No limite do insuportável, aqueles jovens abandonaram famílias, carreiras, amigos, afetos e a luz do dia para um combate desproporcional, arrojado, irrestrito, utópico contra a violência que atingia a todos. Eram guerrilheiros, não aventureiros que escolheram a expropriação e o sequestro como meio de vida ou atalho rápido para a fortuna fácil. Estas eram ações pontuais, eventuais, dramáticas, para sustentar a precária estrutura da resistência ou para salvar a vida de companheiros presos e torturados.
Guerrilha não se confunde com terrorismo, este sim definido pelo deliberado objetivo de infundir terror entre a população civil, com o risco assumido de vítimas inocentes. Terrorista era o Estado brasileiro, era a ditadura militar que usou da força e abusou da violência para alcançar e machucar dissidentes presos, indefesos, algemados, pendurados, desprotegidos diante de um aparato impiedoso que agia à margem da lei, na clandestinidade, nos porões, torturando e matando sob o remorso de um codinome, encoberto na treva de um capuz.
Existiria uma equiparação, no Brasil, entre torturador e torturado?
Não existe comparação possível entre torturado e torturador. Um é vítima, o outro é algoz. Um e outro merecem a verdade, a verdade que repara a injustiça, a verdade que condena a impunidade. O cinismo brasileiro tenta deturpar essa questão, procurando estabelecer um nivelamento inaceitável entre o criminoso e a sua vítima. Um nivelamento vergonhosamente chancelado em 2010 pelo Supremo Tribunal Federal, quando determinou, contrariando o entendimento dos mais importantes juristas e cortes internacionais, que torturados e torturadores no Brasil merecem o mesmo e irrestrito perdão, em nome do esquecimento e da hipocrisia tipicamente brasileira.
Quais seriam as consequências para o Brasil se os crimes cometidos no período militar não forem esclarecidos e os torturadores não forem punidos?
As consequências são proporcionais ao cinismo e à hipocrisia do Brasil. O país cultiva uma velha obsessão por uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU, mas esquece de cumprir seus deveres perante o mundo civilizado. Tanto que, em 2010, foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA por deixar de investigar e apontar os responsáveis por crimes, torturas, desaparecimentos e assassinatos no combate à Guerrilha do Araguaia. O país teve um ano para recorrer dessa sentença, e não conseguiu dar uma resposta satisfatória. Hoje, tecnicamente, o Brasil é um país passível de retaliações legais e jurídicas nos mais importantes organismos internacionais. Enquanto cresce na economia, o Brasil se rebaixa politicamente pela incapacidade de confrontar seu passado e pela covardia no trato de questões essenciais para fazê-lo respeitável no concerto das nações democráticas.
“Para virar a página, é preciso lê-la”, ensina o bravo juiz espanhol Baltazar Garzón, que teve a audácia de alcançar o ditador chileno Augusto Pinochet em Londres, ancorado no braço longo da lei e sustentado na fortaleza moral das grandes causas da humanidade. O Brasil, sempre cínico, quer virar a página sangrenta de sua história sem o dissabor de uma leitura penosa. Um país assim não merece o respeito de ninguém. Muito menos dos brasileiros.