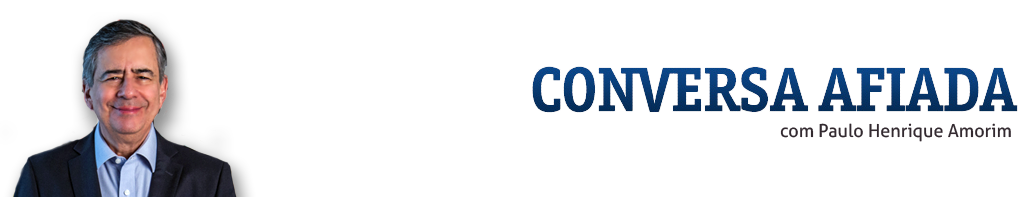A ética da imprensa que se dobra aos arapongas
O Conversa Afiada reproduz da Sul21 artigo de Luiz Claudio Cunha, que, recentemente, em artigo no Globo, expôs a verdadeira face de Paulo Sergio Pinheiro, um dos responsáveis por ser 1/2 a Comissão da 1/2 Verdade.
Por que o The Guardian capitulou ao terror do Estado?
Por Luiz Cláudio Cunha
O planeta agitou-se, no início de junho, com a revelação de um jornalista americano que vive no Rio de Janeiro. Blogueiro do respeitado jornal inglês The Guardian, o advogado Glenn Greenwald, 46 anos, divulgou o maior vazamento da história envolvendo a vasta comunidade de inteligência, ao revelar documentos top secret da Agência de Segurança Nacional (NSA) dos Estados Unidos. O material foi fornecido a ele pelo especialista em informática Edward Snowden, 29 anos, um ex-analista da CIA e ex-consultor da própria NSA, a maior agência de espionagem eletrônica do mundo.
Snowden provou enfim o que todos imaginam, sentem e desconfiam: sob o governo do democrata Barack Obama, os Estados Unidos exercem, com furor e amplitude cada vez maior, o seu papel de Big Brother de dimensões planetárias. Bilhões de ligações telefônicas, e-mails, fotos, mensagens e videoconferências são vigiados diariamente pelo aparato de inteligência norte-americano, com base nos gigantes da telefonia e a cumplicidade de legendas da internet como Google, Facebook, Microsoft e Skype.
O repórter José Casado, de O Globo, atuando em conjunto com Greenwald, colocou o Brasil na roda, com documentos de Snowden provando que milhões de e-mails e ligações de brasileiros e estrangeiros em trânsito pelo país foram monitorados pela teia da NSA, que tinha até 2002 sua mais importante estação de espionagem na América Latina montada em Brasília.
Fundo do poço
O mundo, pelo que revela esta semana a revista alemã Der Spiegel, de acordo com Snowden, era um quintal dos arapongas americanos: com base num ‘Serviço Especial de Coleta’ espalhado numa rede internacional de 80 embaixadas e consulados norte-americanos, a NSA grampeou, entre outros, o sistema de vídeo interno da sede da ONU, a representação da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) em Viena e até os computadores da missão diplomática da União Europeia (EU) em Nova York.
O caso chegou ao fundo do poço em Londres, no domingo, 18 de agosto, quando o brasileiro David Miranda, companheiro de Greenwald, foi detido pela polícia inglesa numa escala do vôo que fazia entre Berlim e Rio de Janeiro. Seis agentes se revezaram num exaustivo interrogatório de quase nove horas a que submeteram Miranda, detido com base numa lei antiterror de 2000, que antecede portanto a paranoia de segurança desatada um ano depois com os ataques do 11 de setembro da Al-Qaeda.
Nenhuma pergunta sobre terrorismo foi feita ao brasileiro, detido no aeroporto de Heathrow apenas pela condição de parceiro do jornalista que hoje mais assombra os serviços de inteligência ocidentais. Perguntaram a Miranda sobre o seu relacionamento com Greenwald, os nomes de seus contatos, suas reportagens, suas novas revelações. Pouco antes de completar o período regulamentar para detenção sem denúncia formal, a polícia liberou Miranda para o retorno ao Brasil, confiscando antes o laptop, o celular e os pen-drive com arquivos criptografados que ele levava para Greenwald.
A opinião pública internacional ficou chocada com a descoberta de tantos abusos e violências, secretas ou ostensivas, praticadas de forma sistemática por duas das maiores democracias do mundo. Mas, o mundo clamoroso do jornalismo pouco falou ou simplesmente ignorou um incrível deslize ético cometido justamente pelo The Guardian, num dos episódios mais bizarros do eterno conflito entre a liberdade de expressão e a sacrossanta segurança nacional: a capitulação do jornal ao Serviço Secreto inglês, que o obrigou a destruir fisicamente os computadores onde arquivava documentos secretos vazados por Edward Snowden.
O caldo entorna
O épico deslize do jornal de Greenwald foi confessado justamente pelo editor do The Guardian, Alan Rusbridger, 59 anos, dois dias após a prisão do brasileiro em Heathrow. O próprio jornal, que classifica o fato como “um dos mais estranhos episódios na história do jornalismo da era digital”, publicou uma enviesada justificativa de Rusbridger, que pode ser assim resumida:
No final de junho, duas semanas após a primeira bombástica reportagem de Greenwald, o jornal publicou outros documentos do NSA que revelavam o envolvimento do seu correspondente inglês, o secretíssimo GCHQ, na coleta de dados privados pelo programa de monitoramento chamado PRISM. Ninguém mexe impunemente no Government Communications Headquarters, que paira acima do MI-5 (o FBI inglês) e até do MI-6 (a CIA local, mais conhecido por ser a repartição de Sua Majestade onde trabalha um tal Bond, James Bond).
O caldo entornou quando o jornal revelou como agentes do GCHG espionaram líderes aliados dos britânicos em dois encontros de cúpula em Londres. Horas depois, dois graduados oficiais da Inteligência procuraram Rusbridger em seu escritório, na sede do jornal em Kings Cross, zona central londrina, onde o jornal ocupa um prédio de sete andares que dominam um complexo de auditórios e artes visuais.
Os agentes foram cordiais, mas deixaram claro que estavam ali seguindo “ordens superiores” para exigir a entrega de todos os arquivos que Snowden forneceu ao The Guardian. Alegaram que o material era roubado, mas não chegaram a ameaçar com a Lei de Segredos Oficiais. Rusbridger e seu editor adjunto, Paul Johnson, argumentaram que a reportagem tinha um ‘substancial interesse público ao descrever uma vigilância governamental de escala até então desconhecida … particularmente devida à aparente fraqueza do controle do Parlamento e do Judiciário’. Ninguém convenceu ninguém, e os agentes foram embora.
Cena patética
O jornal continuou, pelas três semanas seguintes, a publicar novos dados comprometedores sobre a parceria NSA-GCHG na intercepção de telefones e internet. Os agentes voltaram, desta vez com um discurso mais rigoroso: “Vocês já se divertiram bastante. Agora nós queremos aquele material de volta”, exigiram. Os dois oficiais deram outra explicação para a impaciência dos chefes. Temiam que governos estrangeiros, especialmente Rússia ou China, invadissem a rede do jornal. Os editores retrucaram, alegando o sistema de segurança que envolvia os arquivos, mantidos isolados e fora de qualquer sistema do jornal. Entre 16 e 19 de julho, a pressão do governo aumentou, com telefonemas e reuniões seguidas, aumentando o risco de uma ação judicial ou até de uma blitz policial.
Dois objetivos pareciam claros: ou inibir o jornal de novas denúncias ou forçar a simples entrega dos arquivos. Rusbridger explicou aos arapongas da rainha que havia cópias extras dos arquivos nos Estados Unidos e no Brasil. Mas, diante do perigo iminente de um processo, que poderia congelar a reportagem ou forçar a devolução do material, o editor amoleceu e disse que preferia destruir os seus arquivos. O jornalista achava que entregar o material aos agentes seria uma traição à fonte dos arquivos, Edward Snowden, e os arquivos ainda seriam usados pelos Estados Unidos para seu indiciamento na Justiça.
Nesse momento, Rusbridger tomou a temerária decisão de destruir os arquivos de Londres, para continuar usando suas cópias no Brasil e na América, onde os jornalistas são protegidos pela Primeira Emenda que garante a livre expressão. O caso tomou, então, uma dimensão patética: uma constrangedora discussão entre jornalistas e agentes de inteligência sobre a melhor forma de destruir um arquivo e, ao mesmo tempo, proteger o jornal e seus repórteres.
A prova do crime
E uma cena inimaginável chegou então ao porão do prédio de escritório de Kings Place, numa quente manhã de um sábado, sob o testemunho solitário de cinco pessoas: o adjunto Paul Johnson, a diretora executiva Sheila Fitzsimons e o especialista em computação do jornal, David Blishen, vigiados por dois graduados oficiais do GCHQ, armados apenas de notebooks e câmeras digitais. O McBook do jornal que trazia os arquivos explosivos de Snowden foi atacado ferozmente por Johnson e Blishen, que usaram um moedor de disco e uma furadeira para destruir o disco rígido e os chips de memoria. Os agentes tiraram fotos dos despojos no chão, mas não levaram nada.
Era um ato simbólico, como descreveu o jornal, com tom filosofal: “Foi um encontro inigualável na longa e difícil relação entre imprensa e os órgãos de inteligência, e um inusitado e muito físico acordo entre as exigências da segurança nacional e da livre expressão”. A prova do crime, uma foto com os restos mutilados do que um dia foi a memória destroçada do computador do jornal, estampou o artigo do The Guardian com a autoconfissão da autodestruição praticada sob a pressão e controle do governo britânico. Muito mais poderia ser dito ou lembrado ao principal personagem dessa história, Alan Rusbridger, nascido no norte da Rodésia (atual Zâmbia), ex-integrante do coro de uma igreja cristã, pianista amador apaixonado por Chopin e professor visitante de História da Universidade de Londres.
Rusbridger tem idade e experiência suficientes para lembrar um precedente histórico que, ao contrário dele, eleva e consola o jornalismo, como trincheira de resistência ao poder e exemplo pétreo da livre expressão devotada ao interesse público. Em 1971, 42 anos antes do The Guardian dizer ‘sim’ e capitular sem remorso ao terror do Estado, o The New York Times disse ‘não’ e resistiu bravamente ao poder intimidador da maior potência militar do mundo. Num domingo, 13 de junho, o mais importante jornal do mundo começou a publicar a primeiro de nove reportagens que resumiam as 7 mil páginas de 43 volumes da mais demolidora análise da Guerra do Vietnã. Era um estudo top-secret¬ do Departamento de Defesa sobre o conflito que envolvia os americanos no Sudeste asiático entre 1945-67.
Cívica epifania
Só 15 cópias foram feitas, por ordem do secretário de Defesa Robert McNamara. Apenas 36 especialistas participaram do projeto, um deles um ex-comandante da Marinha e analista estratégico chamado Daniel Ellsberg, então com 40 anos. Trabalhando na Rand Corporation, encarregada do estudo, passou meses e noites furtivas copiando página por página na máquina xerox que revelaria ao mundo os ‘Papéis do Pentágono’.
Separados por quatro décadas, Ellsberg e Snowden, por razões parecidas, tiveram a mesma cívica epifania, de repente iluminados pela revelação sobre a natureza maligna do poder a que serviam.
Snowden, em 2013, percebeu: “Eu estou disposto a me sacrificar porque não posso, em sã consciência, deixar que o governo dos Estados Unidos destrua a privacidade, a liberdade da Internet e os direitos básicos das pessoas em todo o mundo, tudo em nome de um maciço serviço secreto de vigilância que eles estão desenvolvendo”.
Ellsberg, em 1971, constatou: “Não há duvida em minha mente de que meu governo está envolvido em uma guerra injusta que vai continuar e se ampliar. Milhares de jovens estão morrendo a cada dia. Senti que, como cidadão americano, como um cidadão responsável, já não podia ocultar esta informação do público americano. Eu fiz isso sabendo que corria perigo, e estou preparado para responder às consequências desta decisão”.
Os papéis do Pentágono, que reconheciam secretamente que a guerra não tinha futuro e que a derrota era inevitável, foram vazados por Ellsberg para um velho conhecido do Vietnã, Neil Sheehan, 34 anos, repórter do The New York Times, conhecido como um teimoso descendente de irlandeses que acordava tarde e escrevia ferozmente entre uma e quatro horas da madrugada. Ellsberg tinha encontrado o sujeito e o instrumento certos para seu empreendimento. O repórter Harrison E. Salisbury, que vazou para o mundo o discurso secreto do premiê Nikita Khrushchov ao congresso do PC soviético em 1956 denunciando os crimes de Josef Stálin, definiu assim o The New York Times: “Era o mais completo, minucioso e responsável diário que o tempo, o dinheiro, o talento e a tecnologia na segunda metade do Século 20 era capaz de produzir”.
A 400 metros
Desde 1896, quando Adolph S. Ochs comprou aquele pequeno jornal para torná-lo uma legenda do jornalismo, a redação era movida por um lema que hoje faz falta ao bom jornalismo de todas as latitudes: “Dar a notícia de forma imparcial, sem medo ou favor, independente de qualquer partido, seita ou interesse envolvido”. Nos anos 70, afrontar ao mesmo tempo o Pentágono dos falcões do Vietnã e a Casa Branca de Richard Nixon era tarefa para poucos ou para loucos, sem medo ou favor. Só podia ser coisa para o Timesdo velho Adolph.
Divulgar os segredos e a autocrítica do complexo industrial-militar era uma tarefa portentosa, mesmo para um jornal tão destemido. Tom Wicker, um de seus maiores repórteres, resumiu: “A publicação dos Papéis do Pentágono foi a mais celebrada violação da segurança nacional dos tempos modernos”. Por isso mesmo, exigiu cuidados extremos, que mostram a obstinação de uma pauta que movia montanhas. Não era possível trabalhar um material tão sensível no burburinho do terceiro piso do velho prédio de 15 andares doTimes, no número 229 da rua 43. Ali, a redação ampla e aberta ainda não tinha os cubículos e baias que retalhou o espaço a partir de 1978, quando chegaram os computadores. Não era um bom ambiente para trabalhar e digerir os 43 volumes sensíveis e nervosos do Pentágono.
A solução foi descer até o térreo, dobrar 140 metros à esquerda, até a 7ª Avenida, descer 90 metros até a rua de baixo e andar mais 170 metros até o número 234 da rua 42, onde ficava o hotel New York Hilton. Ali, 400 metros distante da redação barulhenta, o Times discretamente instalou a sua força-tarefa, comandada por Sheehan e integrada por outros três editores, quatro repórteres, cinco secretárias, um pesquisador, um diagramador, três grandes cofres e vários guardas de segurança do jornal, que não faziam ideia do que vigiavam ali, 24 horas ao dia. De acordo com o código da equipe, no yellow floor (andar amarelo) ficava o apartamento 1106, base de trabalho do solitário Sheehan. Todos os outros se distribuíam pelos quartos doblue floor (andar azul), no 13º piso do Hilton.
O pesadelo
Todas as folhas de rascunho e páginas amassadas na rotina agitada daquelas 15 pessoas eram recolhidas cuidadosamente em sacolas de shopping no fim do dia e levadas de volta para a redação da rua 43, onde eram trituradas. O jornal sabia do poder de seus inimigos, e também vivia a paranoia de estar sob vigilância. Nas manhãs serenas de domingo, o chefe da segurança do Times fazia uma cuidadosa vistoria e troca das linhas telefônicas do terceiro (redação), décimo (editorial) e décimo-quarto (editoria-executiva) andares. O editor-executivo do jornal, o experiente Abe Rosenthal, vivia um pesadelo recorrente quando dormia: via Nixon em rede nacional de TV, tendo ao lado os outros três presidente vivos (Truman, Eisenhower e Johnson), vociferando contra o vazamento da papelada do Pentágono pelo Times.
Na vida real, não foi tão ruim, mas foi quase isso. O jornal, que tinha uma tiragem de 815 mil exemplares na semana, preparou uma edição especial de 1,5 milhão de exemplares naquele domingo histórico, 13 de junho de 1971. Nixou ficou furioso quando leu e entendeu a gravidade do vazamento. “Temos que botar essa gente na fogueira por este tipo de coisa… Vamos botar esses filhos-da-puta na cadeia!”, trovejou para seu assessor de Segurança Nacional, Henry Kissinger. A primeira reação da Casa Branca na Justiça bloqueou novas edições, e o Times suspendeu sua série por duas semanas.
Esperto, Ellsberg vazou novos papéis do Pentágono para o concorrente, o The Washington Post, dando trabalho dobrado aos advogados de Nixon. E o vazamento virou inundação quando Ellsberg repassou documentos a outros 17 jornais, só para chatear a Casa Branca.
O processo na Justiça subiu para a Suprema Corte, onde o Times acabou ganhando por 6 a 3 o direito de retomar a publicação dos Papéis do Pentágono, numa histórica decisão que reafirmou a liberdade de expressão assegurada pela Primeira Emenda. Derrotado, e preocupado com novos vazamentos, Nixon repassou a tarefa para seu chefe da Casa Civil, John Ehrlichman, que teve uma boa ideia: em 24 de julho de 1971, um mês e onze dias após a revelação dos Papéis do Pentágono, foi criada a unidade secreta dos ‘Encanadores da Casa Branca’, integrada por homens como E. Howard Hunt e G. Gordon Liddy. O último trabalho deles foi a invasão de um prédio de escritórios em Washington. Eles entraram na madrugada de 17 de junho de 1972 em Watergate. Richard Nixon saiu da Casa Branca ao meio-dia de 9 de agosto de 1974. O chefe supremo dos encanadores não conseguiu estancar o vazamento de sua autoridade e tornou-se o primeiro presidente americano a renunciar ao cargo.
A distância medida
A aposta arriscada do The New York Times em 1971, em tempos tão inseguros quanto os atuais, levanta uma questão pertinente para o The Guardian de 2013: por que o jornal inglês não apostou contra o poder, como fez o americano? A força-tarefa montada no hotel em torno de Neil Sheehan mostra uma férrea determinação do Times e a consciência do papel histórico de um jornal que assume um compromisso, sem medo ou favor. A constrangedora cena armada no porão por Alan Rusbridger exibe uma inesperada capitulação do Guardian na infame presença de agentes secretos que brandem a ameaça da lei e fazem terror com o peso do Estado.
Quatro décadas antes, o Times pesou as alternativas legais e brigou com a força da lei, sem sucumbir a ela, nem se intimidar diante dela. Tanto que levou o caso às últimas instâncias da Suprema Corte, de onde o jornal saiu adornado por uma vitória que reafirmou o primado da imprensa livre sob o império de um presidente politicamente belicoso e moralmente desonesto como Richard Nixon, conhecido desde 1950 na campanha para senador na Califórnia como ‘Tricky Dick’ (Dick Vigarista).
Os agentes que visitaram o Guardian, para ameaçá-lo, fizeram o que deles se esperava, mas o editor do jornal não reagiu como seria esperado. A justificativa da capitulação de Rusbridger pela existência de arquivos replicados em solo americano e brasileiro só agrava sua falta de firmeza e de caráter. Justamente por ter os documentos protegidos, tinha o Guardian todos os motivos para desdenhar da ameaça de uma retaliação legal ou até de uma blitz policial. A violência do Estado britânico, calcado na lei antiterror, soaria inútil e despropositada.
Mais do que isso: competia ao Guardian, como fez o Times com bravura, expor a face truculenta dos agentes graduados do GCHG que falavam em nome do governo. A resistência do Guardian em torno de uma boa causa, a livre expressão e a independência do jornal diante do governo, só lhe traria apoio político, a solidariedade internacional e o respeito de seus leitores.
O editor do The Guardian preferiu se prestar ao indigno papel de quebrar seu computador diante de dois agentes secretos e espatifar sua credibilidade diante dos leitores.
Em 2013, o The Guardian se dobrou diante do poder, ajoelhado no porão.
Em 1971, o The New York Times dobrou o poder, entrincheirado no 11º andar do hotel onde mostrou o seu papel na história.
Esta é a diferença medida entre um e outro. Doze andares de ética.