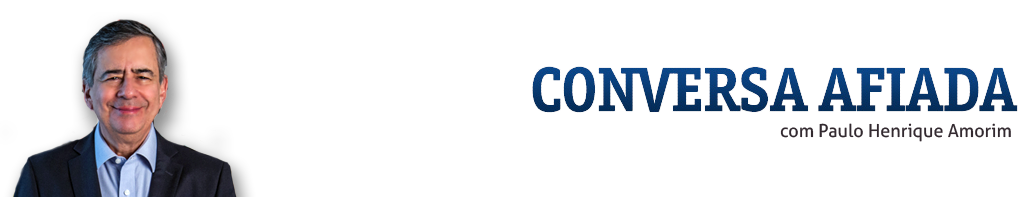Celso Amorim: não é do impeachment que o Brasil precisa
Caso o Golpe prevaleça, movimentos sociais sairiam às ruas
publicado
12/04/2016
Comments

Do ex-ministro Celso Amorim, em CartaCapital:
O varejo e o atacado
A derrubada do impedimento respeita a lei e evita o pior, mas a crise econômica e suas consequências prosseguirão
Está em curso uma luta de morte em torno do impeachment. Por um lado, o maior partido do que foi um dia a base parlamentar do governo, instigado pelo mais absoluto oportunismo, decide abandoná-lo e instruir seus integrantes a votar (e trabalhar) pela destituição da presidenta Dilma Rousseff.
O capitão-mor dessa investida não é outro senão o presidente da Câmara dos Deputados, ele próprio alvo de acusações infinitamente mais sérias do que as lançadas contra a chefe de governo (de resto muito bem desconstruídas pela AGU).
Por outro, os defensores do mandato da presidenta, entre os quais me incluo, são obrigados a buscar na vala comum dos interesses fisiológicos os votos suscetíveis de evitar o impeachment.
Mais recentemente, boa parte da opinião (políticos, magistrados e a própria imprensa) se deu conta de que o eventual beneficiário do golpe parlamentar é passível de sofrer o mesmo destino daquele que se deseja impor à atual governante.
E é essa, confessadamente ou não, a fonte de inspiração de propostas de última hora, como a da “renúncia dupla”, uma espécie de arremedo descabido de suicídios praticados por casais abalados por uma mesma angústia, como Stefan Zweig e sua mulher, que, da pacata Petrópolis, testemunhavam com desgosto uma civilização em chamas.
A presidenta, com a habitual altivez, disse que não renunciaria nunca. O outro interessado, tanto quanto eu saiba, se calou, esperando os desdobramentos. Supondo, por um momento, que essa esdrúxula sugestão prosperasse, qual seria o resultado?
Teríamos o País sendo governado, ainda que provisoriamente, por um político suspeito de crimes gravíssimos. E, mesmo depois de uma eventual eleição, como poderia governar um presidente (ou uma presidenta) que teria de lidar com um Congresso, cuja boa parte dos integrantes enfrenta sérios problemas com a Justiça? É essa a receita para a estabilidade que se contempla?
Afastada essa hipótese, de resto pouco realista, quais os cenários mais prováveis? Um deles – até há pouco considerado mais provável – decorreria da vitória do “sim” ao impeachment. Sem falar no gravíssimo precedente do desrespeito à Constituição e ao voto popular, por si mesmos gerador de instabilidade institucional a curto, médio e longo prazo, o governo que daí resultasse teria de enfrentar a ferrenha oposição dos movimentos sociais, sindicatos e outros.
A menos que recorresse a medidas demagógicas de efêmera duração ou buscasse obter recursos por meio de privatizações e desnacionalizações que deixariam nosso país ainda mais vulnerável, o novo governo teria de manter ou expandir as medidas impopulares já presentes nas políticas de ajuste.
Diferentemente do atual, não contaria, para tanto, com a tolerância dos trabalhadores e outros setores populares, que, bem ou mal, se identificam, ainda que com restrições, com a atual governante. Diante de greves e protestos de vária natureza, seria, muito provavelmente, levado a recorrer à força, desencadeando um ciclo de repressão de consequências imprevisíveis. Não é disso que o Brasil precisa.
Possivelmente, nem mesmo os interesses externos, descontentes com um ou outro aspecto das políticas seguidas nos últimos 13 anos, veriam com bons olhos essa guinada em direção ao autoritarismo, submetidos que estão à pressão de sua própria opinião pública.
Mas o outro cenário – o da derrota do impeachment –, embora desejável como desenlace do processo presente, tampouco assegurará, por si só, um ambiente de crescimento, estabilidade e paz social.
Os atuais congressistas – ou a maioria deles – já demonstraram que não estão dispostos, em hipótese alguma, a dar apoio ao atual governo, nem mesmo quando se trata de medidas com as quais estariam doutrinariamente (supondo que tenham alguma doutrina) de acordo. A tanto leva o “ódio de classe”, a que se referiu recentemente um jornalista que escreveu para o mesmo diário que pregou a tese da dupla renúncia.
A “guerra de atrito”, com toda a probabilidade, continuará, afundando o Brasil cada vez mais no poço sem fundo da recessão e do desemprego. E evidentemente, o eventual um terço dos deputados não será suficiente para dar sustentabilidade ao governo.
De alguma forma, o ciclo atual se repetirá, com protestos de rua, boicotes legislativos e acusações variadas. Neste cenário, serão preservadas as instituições democráticas e o Estado de Direito (o que, obviamente, não é pouco), mas a estabilidade, a paz e a retomada do desenvolvimento não serão garantidas.
Em 2013, a presidenta da República, revelando grande sensibilidade às inquietações que originalmente (sublinho “originalmente”) inspiraram as manifestações populares daquele ano, propôs uma agenda que incluía, como um dos seus pontos principais, a reforma política.
De lá para cá, um aspecto importante dessa reforma foi, apesar do momento turbulento (ou por causa dele), alcançado: a proibição do financiamento das campanhas eleitorais por empresas.
Com dois ou três outros pontos de uma agenda mínima, como, por exemplo, voto em lista, favorecido pelo PT, ou mesmo distrital misto, preferido historicamente pelo PSDB – ambos muito melhores e potencialmente mais baratos do que o sistema atual – e controle rígido dos gastos nas eleições presidenciais, por meio, entre outros, de conceito análogo ao de “sinais exteriores de riqueza”, seria possível, em um prazo não muito distante, ter eleições gerais (e não apenas presidenciais, como querem os advogados da renúncia dupla).
O Congresso que daí emergiria provavelmente seria muito mais representativo do que o atual e, se tivesse poderes constituintes – limitados ao campo político-eleitoral –, completaria a obra reformista, inclusive deliberando com legitimidade sobre o debate inacabado entre parlamentarismo e presidencialismo.
Muitos são os que hoje já falam na necessidade do diálogo. Mas o diálogo não ocorre em abstrato. Necessita de um foco.
Quem sabe olhar para o futuro do País – e não para os interesses imediatos de cada um – seria a maneira de trazer para o entendimento, respeitadas as diferenças, lados hoje cada vez mais violentamente opostos? É difícil ser otimista nos dias que correm. Mas, como aprendi na diplomacia, é um dever inarredável de todo cidadão.
Está em curso uma luta de morte em torno do impeachment. Por um lado, o maior partido do que foi um dia a base parlamentar do governo, instigado pelo mais absoluto oportunismo, decide abandoná-lo e instruir seus integrantes a votar (e trabalhar) pela destituição da presidenta Dilma Rousseff.
O capitão-mor dessa investida não é outro senão o presidente da Câmara dos Deputados, ele próprio alvo de acusações infinitamente mais sérias do que as lançadas contra a chefe de governo (de resto muito bem desconstruídas pela AGU).
Por outro, os defensores do mandato da presidenta, entre os quais me incluo, são obrigados a buscar na vala comum dos interesses fisiológicos os votos suscetíveis de evitar o impeachment.
Mais recentemente, boa parte da opinião (políticos, magistrados e a própria imprensa) se deu conta de que o eventual beneficiário do golpe parlamentar é passível de sofrer o mesmo destino daquele que se deseja impor à atual governante.
E é essa, confessadamente ou não, a fonte de inspiração de propostas de última hora, como a da “renúncia dupla”, uma espécie de arremedo descabido de suicídios praticados por casais abalados por uma mesma angústia, como Stefan Zweig e sua mulher, que, da pacata Petrópolis, testemunhavam com desgosto uma civilização em chamas.
A presidenta, com a habitual altivez, disse que não renunciaria nunca. O outro interessado, tanto quanto eu saiba, se calou, esperando os desdobramentos. Supondo, por um momento, que essa esdrúxula sugestão prosperasse, qual seria o resultado?
Teríamos o País sendo governado, ainda que provisoriamente, por um político suspeito de crimes gravíssimos. E, mesmo depois de uma eventual eleição, como poderia governar um presidente (ou uma presidenta) que teria de lidar com um Congresso, cuja boa parte dos integrantes enfrenta sérios problemas com a Justiça? É essa a receita para a estabilidade que se contempla?
Afastada essa hipótese, de resto pouco realista, quais os cenários mais prováveis? Um deles – até há pouco considerado mais provável – decorreria da vitória do “sim” ao impeachment. Sem falar no gravíssimo precedente do desrespeito à Constituição e ao voto popular, por si mesmos gerador de instabilidade institucional a curto, médio e longo prazo, o governo que daí resultasse teria de enfrentar a ferrenha oposição dos movimentos sociais, sindicatos e outros.
A menos que recorresse a medidas demagógicas de efêmera duração ou buscasse obter recursos por meio de privatizações e desnacionalizações que deixariam nosso país ainda mais vulnerável, o novo governo teria de manter ou expandir as medidas impopulares já presentes nas políticas de ajuste.
Diferentemente do atual, não contaria, para tanto, com a tolerância dos trabalhadores e outros setores populares, que, bem ou mal, se identificam, ainda que com restrições, com a atual governante. Diante de greves e protestos de vária natureza, seria, muito provavelmente, levado a recorrer à força, desencadeando um ciclo de repressão de consequências imprevisíveis. Não é disso que o Brasil precisa.
Possivelmente, nem mesmo os interesses externos, descontentes com um ou outro aspecto das políticas seguidas nos últimos 13 anos, veriam com bons olhos essa guinada em direção ao autoritarismo, submetidos que estão à pressão de sua própria opinião pública.
Mas o outro cenário – o da derrota do impeachment –, embora desejável como desenlace do processo presente, tampouco assegurará, por si só, um ambiente de crescimento, estabilidade e paz social.
Os atuais congressistas – ou a maioria deles – já demonstraram que não estão dispostos, em hipótese alguma, a dar apoio ao atual governo, nem mesmo quando se trata de medidas com as quais estariam doutrinariamente (supondo que tenham alguma doutrina) de acordo. A tanto leva o “ódio de classe”, a que se referiu recentemente um jornalista que escreveu para o mesmo diário que pregou a tese da dupla renúncia.
A “guerra de atrito”, com toda a probabilidade, continuará, afundando o Brasil cada vez mais no poço sem fundo da recessão e do desemprego. E evidentemente, o eventual um terço dos deputados não será suficiente para dar sustentabilidade ao governo.
De alguma forma, o ciclo atual se repetirá, com protestos de rua, boicotes legislativos e acusações variadas. Neste cenário, serão preservadas as instituições democráticas e o Estado de Direito (o que, obviamente, não é pouco), mas a estabilidade, a paz e a retomada do desenvolvimento não serão garantidas.
Em 2013, a presidenta da República, revelando grande sensibilidade às inquietações que originalmente (sublinho “originalmente”) inspiraram as manifestações populares daquele ano, propôs uma agenda que incluía, como um dos seus pontos principais, a reforma política.
De lá para cá, um aspecto importante dessa reforma foi, apesar do momento turbulento (ou por causa dele), alcançado: a proibição do financiamento das campanhas eleitorais por empresas.
Com dois ou três outros pontos de uma agenda mínima, como, por exemplo, voto em lista, favorecido pelo PT, ou mesmo distrital misto, preferido historicamente pelo PSDB – ambos muito melhores e potencialmente mais baratos do que o sistema atual – e controle rígido dos gastos nas eleições presidenciais, por meio, entre outros, de conceito análogo ao de “sinais exteriores de riqueza”, seria possível, em um prazo não muito distante, ter eleições gerais (e não apenas presidenciais, como querem os advogados da renúncia dupla).
O Congresso que daí emergiria provavelmente seria muito mais representativo do que o atual e, se tivesse poderes constituintes – limitados ao campo político-eleitoral –, completaria a obra reformista, inclusive deliberando com legitimidade sobre o debate inacabado entre parlamentarismo e presidencialismo.
Muitos são os que hoje já falam na necessidade do diálogo. Mas o diálogo não ocorre em abstrato. Necessita de um foco.
Quem sabe olhar para o futuro do País – e não para os interesses imediatos de cada um – seria a maneira de trazer para o entendimento, respeitadas as diferenças, lados hoje cada vez mais violentamente opostos? É difícil ser otimista nos dias que correm. Mas, como aprendi na diplomacia, é um dever inarredável de todo cidadão.