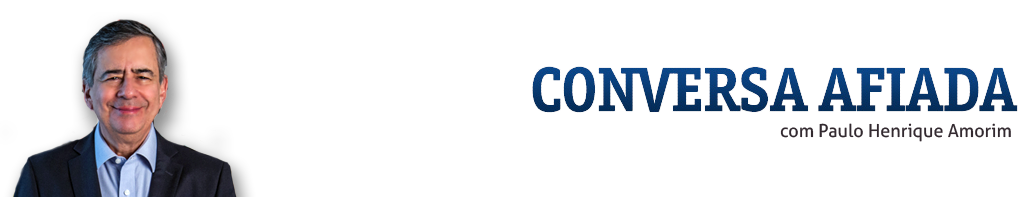Os canhões serão apontados para o nosso Haiti
Cunca: a preliminar é a condenação sem provas do Lula
publicado
03/03/2018
Comments

Do professor Pedro Cláudio Cunca Bocayuva, coordenador do mestrado em Políticas Públicas do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ):
Intervenção militar: ampliação do direito à guerra interna?
Em tempos sombrios, o aprofundamento das medidas de exceção desnorteia o entendimento dos fatos construídos à sombra do medo. A violência material e simbólica da acumulação de poder de dominação vai se autolegitimando no rastro do golpe jurídico-midiático que abre alas para medidas de força, na proporção exata em que amplia o quadro de desgoverno, como condição de rendição política diante da criação de situações de fato.
O excesso da acumulação capitalista, depois do ciclo especulativo dos grandes eventos, transforma-se no espetáculo criminalizador e moralizador da cruzada seletiva contra a corrupção que tem seu centro em Curitiba. Desmontado o aparelho e os serviços públicos estaduais, na esteira da produção do espaço dos megaeventos, a sociedade é convocada para pagar a megadívida que se amplia na medida em que somos convencidos de que tudo se deve ao desvio gerado pelos políticos: o Cabral paga o pato do capital, assim como o Maluf paga o pato da ditadura que o gerou.
Os poderes se dividem e se fragilizam no país, permitindo um novo ciclo no qual o neoliberalismo se articula com novos regimes de segurança policial e com um urbanismo de guerra. A trajetória histórica do “medo na cidade”, tão bem descrita por Vera Malaguti Batista, atualiza-se no quadro atual da sociedade punitiva, das prisões da miséria e da “cidade sitiada”, como descreve Stephen Graham.
O processo de intervenção é uma profecia autoconfirmada. Na dialética da crueldade, o medo alimenta a fúria que coloca em cena a síndrome brasileira da solução de força, da tortura, da prisão e do aniquilamento. Os jogos de guerra e as intervenções “balão de ensaio” nos grandes eventos colocam no centro da cena a política e o risco de transformar as Forças Armadas em capitão do mato, desviando o foco e perdendo de vista as características e problemas do diagnóstico estrutural da questão da segurança pública.
A exceção como regra
Ao contrário do que se supõe, o novo capítulo da chamada intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro e a perspectiva de criação de um Ministério ou de uma Secretaria Nacional de Segurança não é um processo apoiado pelos brasileiros e brasileiras. Como na imposição da via única neoliberal da economia privatista do endividamento, vamos sendo forçados a aceitar e mesmo a apoiar a via única da solução de emergência na segurança.
O medo e a insegurança servem de enunciado para a narrativa em favor da exceção como regra diante das edições das cenas de roubo e agressões, das repetições cotidianas de confrontos e tiroteios. Se aceitamos abrir mão do poder de escolher, manter e revogar os governantes, por que não aceitar a solução de emergência dos que pretendem nos proteger?
Todos sabemos que o regime militar deixou um resíduo autoritário decisivo ao gerar a figura ambivalente de um modelo de polícia sob a tutela ou de “força auxiliar das Forças Armadas”. Dessa forma, o poder militar nunca deixou de ter um poder sobre a polícia, que acaba dividida nas suas atribuições constitucionais entre as funções ostensivas militarizadas da Polícia Militar e as funções judiciárias que são atributo de outro segmento de uma outra corporação, a Polícia Civil. Nesse cenário, tivemos historicamente uma relação de violência institucional entre a população e as políticas de segurança dentro de um recorte em que o poder de agir não se articulava nos moldes legais de uma polícia integrada.
A função de repressão de massas da PM e de seu caráter quase militar gerou efeitos que conhecemos. De um lado, a força e o poder de agir e matar, de outro a falta de autoridade legítima e de responsabilidade legal. A Polícia Civil oscilou entre a mentalidade dos “homens de ouro” e a tensão com a captura e morte do “bandido”.
Os efeitos sobre as relações de poder de polícia, de trato com a população e de padrões de operação mantiveram os traços do controle social de massas em defesa da propriedade e da ação segregadora social e espacial, com forte componente de raça e classe.
No Rio de Janeiro, tivemos, desde o final dos anos setenta do século XX, a explosão combinada dos padrões de urbanização, da rebeldia popular e da concentração de renda e poder com o esvaziamento político. Os cruzamentos dessas tendências tornaram a cidade, sua região metropolitana e o estado (resultado da fusão) um espaço de precariedade e informalidade. Nele, combinam-se modos de gestão com base em acordos fisiológicos com ciclos repressivos, em que modernizações pelo alto ampliaram a destruição da confiança e minaram os avanços políticos e conquistas sociais parciais que tiveram forte significado na história do Estado, tais como as alcançadas na educação pública, na saúde pública ou na luta contra as remoções de favelas.
Intervenção: colapso da representação política
Cada ciclo de democratização é historicamente atravessado pela força da acumulação de poder e pelo uso abusivo da força na cidade. As forças dominantes buscam gerar uma aliança entre o medo dos que sofrem as inúmeras violências com os que desejam impor uma lógica de poder com base no uso da força, desempenhando o papel dos fantoches de cada ciclo que serve ao capital e à oligarquia.
Como uma neurose, a vocação genocida se repete e se atualiza, como processo difuso e descentrado de fragmentação social e como ação de força concentradora de riqueza. Sem consulta popular, uma casta política acuada pela judiciarização e pela cruzada moralista punitiva cede lugar para as forças que, desde as sombras, temem que o véu da injustiça seja rasgado.
A intervenção militar na segurança do Rio é forma extrema de destruição dos direitos políticos e expressa a rendição e colapso da representação política. Um capítulo que se articula com o cenário criminalizador que teve sua preliminar decisiva na condenação sem provas de Lula. O cenário das eleições de 2018 já está completamente restringido pela destituição do poder civil.
Vivemos no país que ainda não passou a limpo sua história, sua memória e sua verdade sobre a desigualdade, o racismo e o sexismo. As forças repressivas não aceitaram se sujeitar ao pacto da cidadania e as forças do capital não aceitam o novo contrato social inscrito na Constituição de 1988.
Direitos sociais violados, como na PEC dos gastos sociais, resultam em alimentação e intensificação dos fluxos, redes que intensificam a força destrutiva de laços sociais, em que todos os problemas são extremados à medida que se intensifica a voracidade especulativa e aumenta o endividamento e a precariedade.
Fluxos de drogas, armas e uma economia paralela são ampliados pela globalização. Em vez de crime e máfias organizadas, temos um Estado violador e privatizado, com inúmeras relações de promiscuidade e acumulação primitiva permanente. Esquadrões e milícias completam a cena no governo privado dos territórios. O crime desorganizado disputa e divide o território com essas lógicas de repartição de poder sobre os lugares.
Os canhões serão apontados contra o nosso Haiti
O espetáculo olímpico foi o último momento do “negócio da China”, que deve culminar agora com as privatizações que se iniciaram com o horizonte traçado para pagar o maior fracasso que tivemos: as políticas urbanas e o saneamento. O estatuto das cidades foi rasgado. A criminalização e a precarização são amparadas pela desmedida do uso das forças de encarceramento, que agora reivindicam ampliar o quadro do direito de guerra interna.
O paradoxal é que o poder de polícia, o poder judiciário e o poder legislativo, enfraquecidos, regozijam-se ao se colocar sob o abrigo das forças militares. Hoje, em nome da missão civilizatória, pretendem apontar os canhões contra o nosso Haiti (Rocinha, Alemão, Maré...), já que tanto aqui quanto lá o povo apostou as cartas nas liberdades francesas, mas se encontra de fato forçado a ser alvo, como numa nova Canudos.
A “Guerra Sem Fim do Brasil” exige sempre sua cota de sangue e liberdades quando a República Institucional se sente fraca diante da suposta força organizada, que se alimenta dessa permanente conversão da questão social em questão de polícia. Isso nada mais é do que a projeção complexa dos efeitos do próprio Estado, que recusa o antídoto dos direitos e que busca o remédio no ato de amputar, e até mesmo admite matar o doente.
Ao contrário do fascismo e do totalitarismo, que preferiam a solução sem imagens da banalidade do mal, o convite é para que todos compartilhem da decisão da licença para matar. Somos convidados a participar da condenação e aniquilação dos inimigos da sociedade e da ordem, como expressão de um regime de violência visível ou de crueldade.
A universidade brasileira e os direitos inscritos no Artigo 6º da Constituição são a única base sólida para uma política de segurança cujo ponto de partida seria assegurar o direito de habitação, saúde e educação, com o pagamento e regularização de salários atrasados e a retomada de políticas de renda e de cultura. Nesse sentido, o direito à cidade se complementaria com a ação focada na juventude e na geração de um vasto programa de saneamento ambiental e urbanização das favelas, que poderia ser articulado com a unificação, a reforma e o fortalecimento das polícias para a proteção das pessoas.
Os recursos usados para construir presídios e para a guerra contra o crime impedem a articulação da política nacional de segurança pública democrática e cidadã. Mais uma vez, o cerco aos pobres e descontentes é um instrumento de segregação e expulsão.
O mais grave é o horizonte proposto na narrativa que visa a exigir uma desmedida jurídica em que se legaliza a licença para matar. Ou seja, vemos um retorno da demanda de uma deformação da força da lei de modo a, mais uma vez, apagar o direito à verdade que tanto poderia contribuir para o desarmamento por meio de uma ação eficaz que nos retirasse do dilema entre UPP ou militarização. Isso porque se trata de fazer a cidade e proteger a cidadania com mais igualdade e o respeito ao contrato social, cuja ruptura crescente nos jogou nas mãos do mercado selvagem e da guerra em nome de cruzadas moralizantes e de limpezas étnicas cujo resultado será a regressão civilizatória.
O Haiti é o exemplo crônico dessa via onde a catástrofe anunciada sempre justifica a pacificação de tipo neocolonial que reprimiu o sonho de um iluminismo conduzido por pobres e negros. O poder civil legitimamente eleito é a via da correção dessa destruição do significado do público, na direção do consenso construído a partir do reconhecimento do conflito e não da paz dos cemitérios.