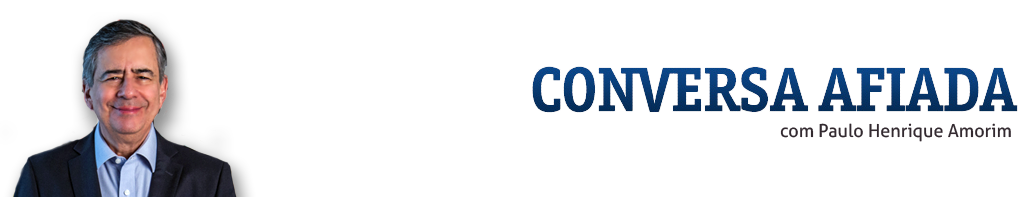Quem disse que Juiz não é sócio do MP nem da PF?
Quem será esse grande jurista?
publicado
26/03/2016
Comments

O Conversa Afiada reproduz, de novo, artigo mortífero do mortífero Lenio Streck:
Juiz não é sócio do Ministério Público nem membro da Polícia Federal
por Lenio Streck
Calma. Calma. A frase não é minha. É de um ministro do Supremo Tribunal Federal, em acórdão que aprecia conduta de um juiz federal, no ano de 2013 (para fazer justiça e dar a César o que é de César, o advogado foi Cesar Bitencourt; já o nome do juiz implicado o leitor descobrirá lendo o acórdão). Por isso, dou o spoiler. Se o leitor estiver muito curioso, pode ir direto ao post scriptum. E ler a íntegra do acórdão. Ainda em spoiler, há outra frase do mesmo julgado que poderia estar no título desta coluna:
“Juízes que se pretendem versados na teoria e na prática do combate ao crime, juízes que arrogam a si a responsabilidade por operações policiais, transformam a Constituição em um punhado de palavras bonitas rabiscadas em um pedaço de papel sem utilidade prática” (grifei).
Mais uma frase:
A vinculação do juiz à ética da legalidade algumas vezes o coloca sob forte pressão dos que supõem que todos são culpados até prova em contrário” (grifei).
Isso tudo para dizer que, hoje, minha coluna é saudosista. É o que me resta, nestes tempos sombrios de descumprimento das leis e da Constituição. Em 1984 fazia meu mestrado e assisti a uma conferência de Cornelius Castoriadis, autor dos clássicos Instituição Imaginária da Sociedade, Ascensão da Insignificância entre outros. Lembro de uma de suas frases, que digo aqui de cor: o gesto do carrasco é real na sua essência e simbólico por excelência. Não fui conferir no livro, para manter a magia da memória de mais de 30 anos atrás. Mesmo que seja uma memória falsa ou uma falsa memória, a frase mostra o que é o simbólico. Como um gesto pode representar, simbolicamente, o comportamento e o imaginário de um tempo e de uma dada instituição.
Pego como exemplo — simbólico — o novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor dia 18 de março de 2016, que em seu artigo 940 diz que o prazo de devolução dos processos em pedido de vista é de 10 dias. Sim. Dez. Não é 60. Explico. O Superior Tribunal de Justiça, em reunião administrativa, decidiu que o CPC está errado e que o tempo ideal é de 60 dias, prorrogáveis por mais 30. Segundo o STJ, “o argumento é simples: como o STJ define tese jurídica e sua interpretação é aplicada por todos os demais tribunais, o prazo de 10 dias seria inviável para os julgadores se aprofundarem no estudo dos casos. Os pedidos de vista suspendem a discussão para dar mais tempo ao magistrado de analisar a questão e preparar o voto. ”
Quando li isso, logo tremi nas bases: o que mais o STJ considerará errado no novo CPC? Sim, porque no caso do prazo, sua resolução foi rápida e a justificação “simples”. Já a justiça do trabalho (lembro do magistrado Xerxes que me disse, em debate no TRT-SP, que, se tiver que aplicar o artigo 489 do CPC, mudar-se-á para o Zimbabwe) não deixou por menos. Entre outros enunciados aprovados no início de março no Fórum Nacional de Processo do Trabalho, está o de número 17, (leia aqui), verbais:
NCPC, ART. 10. ART. 769 DA CLT. PROIBIÇÃO DE FUNDAMENTO "SURPRESA". (...) INAPLICABILIDADE NO PROCESSO DO TRABALHO. (...) não se aplica ao processo do trabalho o art. 10 do NCPC, que veda motivação diversa da utilizada pelas partes, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Prevalência dos princípios da simplicidade, da celeridade, da informalidade e do jus postulandi, norteadores do processo do trabalho. Resultado: aprovado unanimidade.
É preciso dizer algo mais? Pobre Montesquieu.
Ao mesmo tempo, vejo o Supremo Tribunal Federal decidir — contra a letra da lei e da Constituição — que é possível a execução provisória de uma sentença condenatória, sem que tenha declarado o artigo 283 do CPP inconstitucional. E parcela considerável dos juristas de Pindorama acha bonito que um juiz federal descumpra a lei e a CF de forma escandalosa, dizendo que, apesar de reconheceu que a escuta da presidente foi “irregular” (sic), nem se atentou porque considerou esse detalhe irrelevante (sic). Aliás, fui eu que disse pela primeira vez, no mesmo dia, em vários veículos nacionais e internacionais, que a conduta do juiz era ilegal e inconstitucional e que ali haviam sido cometidos vários crimes (leia aqui). Vejo, agora, que o ministro Teori Zavascki tem a mesma opinião, conforme se pode ver de sua decisão do dia 22 de março de 2016, quando deixou cristalinamente claro que a decisão de pôr fim ao sigilo das escutas foi feita à revelia da lei e da CF. Também fala da intercepção do escritório do advogado. Bom, leiam o acórdão. Para que não digam que é cisma de um constitucionalista chato. Ademais, para a comunidade jurídica que era (e é) mais morista que Moro, eis uma boa palhinha do que está por vir. A jurisprudência do STF é mansa e pacífica.
Sigo. Vejo contristado que advogados criminalistas consideram irrelevantes as formalidades atinentes às garantias processuais-constitucionais, tudo em nome dos “bons fins”. Ou seja, a pior coisa que existe para um advogado criminalista é um raciocínio consequencialista. Ele nem sabe disso. Aliás, é ruim quando nem se sabe que não se sabe...! Traduzindo isso em quadrinhos: combater uma conduta ilícita e condenar o réu sempre será, à luz de um juízo finalístico-consequencialista, uma “coisa boa” para a sociedade. Logo, aquilo que serve de garantia para exatamente impedir que o juiz decida por políticas e de forma consequencialista é o que? Eis o quiz: a) a opinião pessoal do juiz; b) as ordálias; c) qualquer coisa desde que se alcance o resultado condenatório, já que os fins justificam os meios e d) o processo penal e as garantias constitucionais. Pelo que se vê e ouve, a alternativa “c” terá maioria, seguida de perto pela letra “b” e depois “a”. A letra “d” terá a resposta minoritária.
Que (uma parcela considerável dos) economistas, engenheiros, filósofos, sociológicos, jornalistas, jornaleiros, donas de casa e frequentadores de facebook, tuiteiros e leitores de livros simplificados, mastigados e facilitados achem que os fins justificam os meios (alternativa “c” do quis), é normal e não surpreende. Compreendo que façam raciocínios consequencialistas. Afinal, a situação do país não vai nada bem e as acusações aos políticos do governo e da oposição aumentam a cada dia. Um torcedor também quer que seu time vença, mesmo que o gol seja feito com a mão ou em impedimento. Tudo isso é compreensível.
Mas que constitucionalistas ou processualistas ou advogados criminalistas digam que a formalidade (por exemplo, a licitude constitucional de uma prova) é despicienda, isso gera uma profunda tristeza. É como se o médico dissesse que a vida do paciente não é importante, na medida em que, afinal, vai morrer mesmo, ou que o paciente acabou de cometer um crime e, por isso, é melhor deixá-lo morrer ou, ainda, como “não gosto do meu vizinho e por azar ele caiu na minha mão, vou deixar que morra”. O juramento de Hipócrates que os esculápios prestam é o que um jurista faz em relação a Constituição.
Portanto, ser jurista é ter compromisso com a Constituição. Forma dat esse rei: esse é o lema do processo. Você pode ter até a certeza que alguém é culpado. Mas se a prova for ilícita, tem de absolver. E assim por diante. Caso contrário, direito vira filosofia moral. Ou opinião sociológica. Ou disputa política. Ou uma simples questão de opinião. Não esqueça que você poderia ter feito outra coisa. Mas, se optou pelo direito, algumas coisas você não pode dizer. Ah, mas não pode, mesmo.
Sendo saudosista, de novo: quando entrei para o doutorado, tivemos que ler o Espírito das Leis, de Montesquieu, Paz e Guerra, de Raymond Aron e Uma teoria da justiça, de John Rawls. Bons tempos na academia. No mestrado e doutorado, tínhamos tempo. Líamos livros ao sol e brincávamos com as cascas de bergamota, que atirávamos em forma de pequenos discos voadores.
Quando o que a lei (claramente) diz nada vale, chamemos o Barão!
E desse tempo, aprendi uma coisa que cai como uma luva nestes tempos em que se fragiliza a lei em nome de fins, de forma utilitarista. A lição do Barão de Montesquieu — que guardo em uma ficha de leitura feita com a firme vigilância do professor Cesar Pasold (que aqui homenageio) — é absolutamente atual. Colemos na parede ou na geladeira. No Livro Sexto, Capítulo III — denominado “Em que governos e em que casos deve-se julgar segundo um texto preciso da lei”, leio:
Quando mais o governo se aproxima da República, mais a forma de julgar se torna fixa; e era um vício da República da Lacedemônia que os éforos julgassem arbitrariamente, sem que houvesse leis para dirigi-los. Em Roma, os primeiros cônsules julgaram como os éforos: sentiram os inconvenientes disto e criaram leis precisas.
Mais:
Nos Estados despóticos, não há lei: o juiz é ele mesmo sua própria regra. Nos Estados monárquicos, existe uma lei: e onde ela é precisa o juiz segue-a; onde ela não o é, ele procura seu espírito.
E vem o arremate, de arrepiar a espinha epistêmica do vivente:
No governo republicano, é da natureza da Constituição que os juízes sigam a letra da lei. Não há cidadão contra quem se possa interpretar uma lei quando se trata de seus bens, de sua honra ou de sua vida.[1]
Meu acréscimo ao que disse o Barão: Bingo! Só isso!
Não vou discutir coisas do tipo “Lenio está voltando ao século XIX”; ele está fazendo uma ode a um olhar externo do direito (espécie de não cognotivismo ético)”, “está dizendo que o juiz deve ser a boca da lei” e coisas do gênero. Remeto os críticos apressados à minhas mais de duzentas colunas escritas aqui na ConJur e aos meus livros. Também à coluna (leia aqui) em que trato de uma aliança estratégica (leia aqui) com o positivismo, face ao estado de natureza interpretativo que se instaurou no país. Portanto, não é disso que estou tratando. Esta coluna é apenas para dizer que um livro escrito em 1748 está absolutamente atual. Só isso. Pode ser bobagem minha. Ou, sim, um saudosismo. Quando uma lei diz que o prazo é dez dias e o judiciário diz que pode ser noventa; o a justiça do trabalho diz que não cumprirá um dispositivo do CPC; quando uma lei diz que é crime fazer interceptação sem ordem judicial e o próprio juiz reconhece que a escuta foi irregular e mesmo assim a mandou publicizar por não considerar o dizer da lei relevante, nada melhor do que alguém da plateia levantar e gritar: “— chamem o Barão”!
Post scriptum. A propósito: O que o velho Barão diria ao ler o acórdão do HC 95518 / PR?
Tratou o Habeas Corpus do modus operandi de um juiz brasileiro. Algumas preciosidades merecem ser reproduzidas, como:
“[Juiz] tem uma função específica. Ele não é sócio do Ministério Público e, muito menos, membro da Polícia Federal, do órgão investigador, no desfecho da investigação.(...) A questão, portanto, cinge-se a verificar se o conjunto de decisões revela atuação parcial do magistrado.(...) “A prisão preventiva não pode – e não deve – ser utilizada, pelo Poder Público, como instrumento de punição antecipada (...); o juiz irroga-se de autoridade ímpar, absolutista, acima da própria Justiça, conduzindo o processo ao seu livre arbítrio, bradando sua independência funcional.”
Vale a pena ler a íntegra. Têm muito mais coisas. Talvez a parte mais forte do acórdão seja esta:
“(…) a independência do juiz criminal impõe sua cabal desvinculação da atividade investigatória e do combate ativo do crime, na teoria e na prática. O resultado dessa perversa vinculação não tarda a mostrar-se, a partir dela, a pretexto de implantar-se a ordem, instalando-se pura anarquia. Dada a suposta violação da lei, nenhuma outra lei poderia ser invocada para regrar o comportamento do Estado na repressão dessa violação. Contra ‘bandidos’ o Estado e seus agentes atuam como se bandidos fossem, à margem da lei, fazendo mossa da Constituição. E tudo com a participação do juiz, ante a crença generalizada de que qualquer violência é legítima se praticada em decorrência de uma ordem judicial. Juízes que se pretendem versados na teoria e na prática do combate ao crime, juízes que arrogam a si a responsabilidade por operações policiais transformam a Constituição em um punhado de palavras bonitas rabiscadas em um pedaço de papel sem utilidade prática, como diz Ferrajoli. Ou em papel pintado com tinta; uma coisa que está indistinta a distinção entre nada e coisa nenhuma, qual nos versos de Fernando Pessoa”. O “binguíssimo” aqui é meu.
Nesse acórdão também foi tratado um problema que se repete hoje: o monitoramento de advogados. Vejam o que disse o ministro Celso de Mello: “Parece-me, em face dos documentos que instruem esta impetração e da sequência dos fatos relatados neste processo, notadamente do gravíssimo episódio do monitoramento dos Advogados do ora paciente (...)”.
Só para lembrar o sinal dos tempos: na Espanha, o festejado juiz Baltazar Garçon, festejado no Brasil principalmente por setores da esquerda (depois viram que quebraram a cara), perdeu o cargo faz alguns anos. Sabem por que? Por que autorizou escuta ilegal de advogado com cliente na prisão. A Espanha não é mole, não.
É isso. Viva o velho Barão!
Lenio Luiz Streck é jurista, professor de direito constitucional e pós-doutor em Direito. Sócio do Escritório Streck, Trindade e Rosenfield Advogados Associados: www.streckadvogados.com.br.
Calma. Calma. A frase não é minha. É de um ministro do Supremo Tribunal Federal, em acórdão que aprecia conduta de um juiz federal, no ano de 2013 (para fazer justiça e dar a César o que é de César, o advogado foi Cesar Bitencourt; já o nome do juiz implicado o leitor descobrirá lendo o acórdão). Por isso, dou o spoiler. Se o leitor estiver muito curioso, pode ir direto ao post scriptum. E ler a íntegra do acórdão. Ainda em spoiler, há outra frase do mesmo julgado que poderia estar no título desta coluna:
“Juízes que se pretendem versados na teoria e na prática do combate ao crime, juízes que arrogam a si a responsabilidade por operações policiais, transformam a Constituição em um punhado de palavras bonitas rabiscadas em um pedaço de papel sem utilidade prática” (grifei).
Mais uma frase:
A vinculação do juiz à ética da legalidade algumas vezes o coloca sob forte pressão dos que supõem que todos são culpados até prova em contrário” (grifei).
Isso tudo para dizer que, hoje, minha coluna é saudosista. É o que me resta, nestes tempos sombrios de descumprimento das leis e da Constituição. Em 1984 fazia meu mestrado e assisti a uma conferência de Cornelius Castoriadis, autor dos clássicos Instituição Imaginária da Sociedade, Ascensão da Insignificância entre outros. Lembro de uma de suas frases, que digo aqui de cor: o gesto do carrasco é real na sua essência e simbólico por excelência. Não fui conferir no livro, para manter a magia da memória de mais de 30 anos atrás. Mesmo que seja uma memória falsa ou uma falsa memória, a frase mostra o que é o simbólico. Como um gesto pode representar, simbolicamente, o comportamento e o imaginário de um tempo e de uma dada instituição.
Pego como exemplo — simbólico — o novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor dia 18 de março de 2016, que em seu artigo 940 diz que o prazo de devolução dos processos em pedido de vista é de 10 dias. Sim. Dez. Não é 60. Explico. O Superior Tribunal de Justiça, em reunião administrativa, decidiu que o CPC está errado e que o tempo ideal é de 60 dias, prorrogáveis por mais 30. Segundo o STJ, “o argumento é simples: como o STJ define tese jurídica e sua interpretação é aplicada por todos os demais tribunais, o prazo de 10 dias seria inviável para os julgadores se aprofundarem no estudo dos casos. Os pedidos de vista suspendem a discussão para dar mais tempo ao magistrado de analisar a questão e preparar o voto. ”
Quando li isso, logo tremi nas bases: o que mais o STJ considerará errado no novo CPC? Sim, porque no caso do prazo, sua resolução foi rápida e a justificação “simples”. Já a justiça do trabalho (lembro do magistrado Xerxes que me disse, em debate no TRT-SP, que, se tiver que aplicar o artigo 489 do CPC, mudar-se-á para o Zimbabwe) não deixou por menos. Entre outros enunciados aprovados no início de março no Fórum Nacional de Processo do Trabalho, está o de número 17, (leia aqui), verbais:
NCPC, ART. 10. ART. 769 DA CLT. PROIBIÇÃO DE FUNDAMENTO "SURPRESA". (...) INAPLICABILIDADE NO PROCESSO DO TRABALHO. (...) não se aplica ao processo do trabalho o art. 10 do NCPC, que veda motivação diversa da utilizada pelas partes, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Prevalência dos princípios da simplicidade, da celeridade, da informalidade e do jus postulandi, norteadores do processo do trabalho. Resultado: aprovado unanimidade.
É preciso dizer algo mais? Pobre Montesquieu.
Ao mesmo tempo, vejo o Supremo Tribunal Federal decidir — contra a letra da lei e da Constituição — que é possível a execução provisória de uma sentença condenatória, sem que tenha declarado o artigo 283 do CPP inconstitucional. E parcela considerável dos juristas de Pindorama acha bonito que um juiz federal descumpra a lei e a CF de forma escandalosa, dizendo que, apesar de reconheceu que a escuta da presidente foi “irregular” (sic), nem se atentou porque considerou esse detalhe irrelevante (sic). Aliás, fui eu que disse pela primeira vez, no mesmo dia, em vários veículos nacionais e internacionais, que a conduta do juiz era ilegal e inconstitucional e que ali haviam sido cometidos vários crimes (leia aqui). Vejo, agora, que o ministro Teori Zavascki tem a mesma opinião, conforme se pode ver de sua decisão do dia 22 de março de 2016, quando deixou cristalinamente claro que a decisão de pôr fim ao sigilo das escutas foi feita à revelia da lei e da CF. Também fala da intercepção do escritório do advogado. Bom, leiam o acórdão. Para que não digam que é cisma de um constitucionalista chato. Ademais, para a comunidade jurídica que era (e é) mais morista que Moro, eis uma boa palhinha do que está por vir. A jurisprudência do STF é mansa e pacífica.
Sigo. Vejo contristado que advogados criminalistas consideram irrelevantes as formalidades atinentes às garantias processuais-constitucionais, tudo em nome dos “bons fins”. Ou seja, a pior coisa que existe para um advogado criminalista é um raciocínio consequencialista. Ele nem sabe disso. Aliás, é ruim quando nem se sabe que não se sabe...! Traduzindo isso em quadrinhos: combater uma conduta ilícita e condenar o réu sempre será, à luz de um juízo finalístico-consequencialista, uma “coisa boa” para a sociedade. Logo, aquilo que serve de garantia para exatamente impedir que o juiz decida por políticas e de forma consequencialista é o que? Eis o quiz: a) a opinião pessoal do juiz; b) as ordálias; c) qualquer coisa desde que se alcance o resultado condenatório, já que os fins justificam os meios e d) o processo penal e as garantias constitucionais. Pelo que se vê e ouve, a alternativa “c” terá maioria, seguida de perto pela letra “b” e depois “a”. A letra “d” terá a resposta minoritária.
Que (uma parcela considerável dos) economistas, engenheiros, filósofos, sociológicos, jornalistas, jornaleiros, donas de casa e frequentadores de facebook, tuiteiros e leitores de livros simplificados, mastigados e facilitados achem que os fins justificam os meios (alternativa “c” do quis), é normal e não surpreende. Compreendo que façam raciocínios consequencialistas. Afinal, a situação do país não vai nada bem e as acusações aos políticos do governo e da oposição aumentam a cada dia. Um torcedor também quer que seu time vença, mesmo que o gol seja feito com a mão ou em impedimento. Tudo isso é compreensível.
Mas que constitucionalistas ou processualistas ou advogados criminalistas digam que a formalidade (por exemplo, a licitude constitucional de uma prova) é despicienda, isso gera uma profunda tristeza. É como se o médico dissesse que a vida do paciente não é importante, na medida em que, afinal, vai morrer mesmo, ou que o paciente acabou de cometer um crime e, por isso, é melhor deixá-lo morrer ou, ainda, como “não gosto do meu vizinho e por azar ele caiu na minha mão, vou deixar que morra”. O juramento de Hipócrates que os esculápios prestam é o que um jurista faz em relação a Constituição.
Portanto, ser jurista é ter compromisso com a Constituição. Forma dat esse rei: esse é o lema do processo. Você pode ter até a certeza que alguém é culpado. Mas se a prova for ilícita, tem de absolver. E assim por diante. Caso contrário, direito vira filosofia moral. Ou opinião sociológica. Ou disputa política. Ou uma simples questão de opinião. Não esqueça que você poderia ter feito outra coisa. Mas, se optou pelo direito, algumas coisas você não pode dizer. Ah, mas não pode, mesmo.
Sendo saudosista, de novo: quando entrei para o doutorado, tivemos que ler o Espírito das Leis, de Montesquieu, Paz e Guerra, de Raymond Aron e Uma teoria da justiça, de John Rawls. Bons tempos na academia. No mestrado e doutorado, tínhamos tempo. Líamos livros ao sol e brincávamos com as cascas de bergamota, que atirávamos em forma de pequenos discos voadores.
Quando o que a lei (claramente) diz nada vale, chamemos o Barão!
E desse tempo, aprendi uma coisa que cai como uma luva nestes tempos em que se fragiliza a lei em nome de fins, de forma utilitarista. A lição do Barão de Montesquieu — que guardo em uma ficha de leitura feita com a firme vigilância do professor Cesar Pasold (que aqui homenageio) — é absolutamente atual. Colemos na parede ou na geladeira. No Livro Sexto, Capítulo III — denominado “Em que governos e em que casos deve-se julgar segundo um texto preciso da lei”, leio:
Quando mais o governo se aproxima da República, mais a forma de julgar se torna fixa; e era um vício da República da Lacedemônia que os éforos julgassem arbitrariamente, sem que houvesse leis para dirigi-los. Em Roma, os primeiros cônsules julgaram como os éforos: sentiram os inconvenientes disto e criaram leis precisas.
Mais:
Nos Estados despóticos, não há lei: o juiz é ele mesmo sua própria regra. Nos Estados monárquicos, existe uma lei: e onde ela é precisa o juiz segue-a; onde ela não o é, ele procura seu espírito.
E vem o arremate, de arrepiar a espinha epistêmica do vivente:
No governo republicano, é da natureza da Constituição que os juízes sigam a letra da lei. Não há cidadão contra quem se possa interpretar uma lei quando se trata de seus bens, de sua honra ou de sua vida.[1]
Meu acréscimo ao que disse o Barão: Bingo! Só isso!
Não vou discutir coisas do tipo “Lenio está voltando ao século XIX”; ele está fazendo uma ode a um olhar externo do direito (espécie de não cognotivismo ético)”, “está dizendo que o juiz deve ser a boca da lei” e coisas do gênero. Remeto os críticos apressados à minhas mais de duzentas colunas escritas aqui na ConJur e aos meus livros. Também à coluna (leia aqui) em que trato de uma aliança estratégica (leia aqui) com o positivismo, face ao estado de natureza interpretativo que se instaurou no país. Portanto, não é disso que estou tratando. Esta coluna é apenas para dizer que um livro escrito em 1748 está absolutamente atual. Só isso. Pode ser bobagem minha. Ou, sim, um saudosismo. Quando uma lei diz que o prazo é dez dias e o judiciário diz que pode ser noventa; o a justiça do trabalho diz que não cumprirá um dispositivo do CPC; quando uma lei diz que é crime fazer interceptação sem ordem judicial e o próprio juiz reconhece que a escuta foi irregular e mesmo assim a mandou publicizar por não considerar o dizer da lei relevante, nada melhor do que alguém da plateia levantar e gritar: “— chamem o Barão”!
Post scriptum. A propósito: O que o velho Barão diria ao ler o acórdão do HC 95518 / PR?
Tratou o Habeas Corpus do modus operandi de um juiz brasileiro. Algumas preciosidades merecem ser reproduzidas, como:
“[Juiz] tem uma função específica. Ele não é sócio do Ministério Público e, muito menos, membro da Polícia Federal, do órgão investigador, no desfecho da investigação.(...) A questão, portanto, cinge-se a verificar se o conjunto de decisões revela atuação parcial do magistrado.(...) “A prisão preventiva não pode – e não deve – ser utilizada, pelo Poder Público, como instrumento de punição antecipada (...); o juiz irroga-se de autoridade ímpar, absolutista, acima da própria Justiça, conduzindo o processo ao seu livre arbítrio, bradando sua independência funcional.”
Vale a pena ler a íntegra. Têm muito mais coisas. Talvez a parte mais forte do acórdão seja esta:
“(…) a independência do juiz criminal impõe sua cabal desvinculação da atividade investigatória e do combate ativo do crime, na teoria e na prática. O resultado dessa perversa vinculação não tarda a mostrar-se, a partir dela, a pretexto de implantar-se a ordem, instalando-se pura anarquia. Dada a suposta violação da lei, nenhuma outra lei poderia ser invocada para regrar o comportamento do Estado na repressão dessa violação. Contra ‘bandidos’ o Estado e seus agentes atuam como se bandidos fossem, à margem da lei, fazendo mossa da Constituição. E tudo com a participação do juiz, ante a crença generalizada de que qualquer violência é legítima se praticada em decorrência de uma ordem judicial. Juízes que se pretendem versados na teoria e na prática do combate ao crime, juízes que arrogam a si a responsabilidade por operações policiais transformam a Constituição em um punhado de palavras bonitas rabiscadas em um pedaço de papel sem utilidade prática, como diz Ferrajoli. Ou em papel pintado com tinta; uma coisa que está indistinta a distinção entre nada e coisa nenhuma, qual nos versos de Fernando Pessoa”. O “binguíssimo” aqui é meu.
Nesse acórdão também foi tratado um problema que se repete hoje: o monitoramento de advogados. Vejam o que disse o ministro Celso de Mello: “Parece-me, em face dos documentos que instruem esta impetração e da sequência dos fatos relatados neste processo, notadamente do gravíssimo episódio do monitoramento dos Advogados do ora paciente (...)”.
Só para lembrar o sinal dos tempos: na Espanha, o festejado juiz Baltazar Garçon, festejado no Brasil principalmente por setores da esquerda (depois viram que quebraram a cara), perdeu o cargo faz alguns anos. Sabem por que? Por que autorizou escuta ilegal de advogado com cliente na prisão. A Espanha não é mole, não.
É isso. Viva o velho Barão!
Lenio Luiz Streck é jurista, professor de direito constitucional e pós-doutor em Direito. Sócio do Escritório Streck, Trindade e Rosenfield Advogados Associados: www.streckadvogados.com.br.