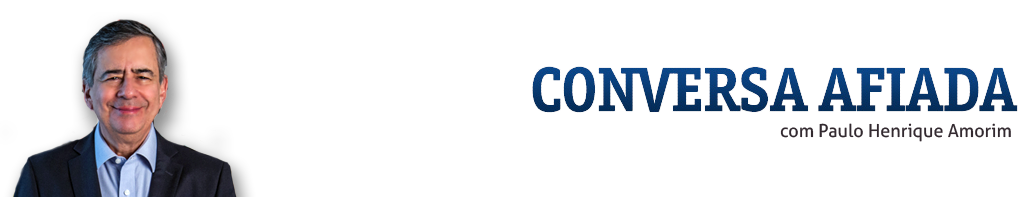Yuri Silva sobre a Covid-19: "o medo de partir sem me despedir quase me sufocou"

Mídia 4P - Eu fui contaminado pela Covid-19. Temi tanto que isso ocorresse, devido ao meu estado pessoal, que inclui hipertensão controlada por remédios e obesidade, mas o temor não foi suficiente para me blindar. Mesmo tomando todos os cuidados necessários, me contaminei. Antes que perguntem em tom de julgamento e de condenação, não violei as restrições sanitárias e não sei onde ocorreu nem como deu-se a infecção. Mas sei que atuei na linha de frente de ajuda a famílias vulneráveis de Salvador, distribuindo, por meio da instituição que componho a direção, alimentos, kits de higiene pessoal, máscaras e outros itens, inclusive onde atualmente moro, no Solar do Unhão, comunidade pobre e abandonada pelo poder público sob a Avenida Contorno, no centro da cidade.
Aqui, no Solar, nas duas semanas que permaneci em isolamento total devido aos sintomas, estouraram diversos casos de contaminação – muitos de pessoas já curadas, com taxa IGG positiva para anticorpos. Mas, graças às energias que conduzem o mundo, nenhum caso grave foi desenvolvido, pelo menos que eu tenha tomado conhecimento até agora. Nem o meu foi tão grave do ponto de vista clínico, embora tenha me marcado de forma intensa, eterna, cortante, para sempre.
Senti forte dor de cabeça no dia 4 de julho, um sábado, após uma manhã intensa de trabalho que tenho acumulado entre dois jobs e minha dedicação à militância e a cuidar das pessoas pretas subalternizadas pelo racismo e pela pobreza. Não dei atenção, pois achei que era estresse, e me mediquei com Dipirona, melhorando poucas horas depois. A dor voltou no dia 5, mais leve, e novamente a Dipirona foi a solução para o incômodo, que também não me remeteu à pandemia do Coronavírus, já que, embora eu estivesse na linha de frente, havia algumas boas semanas, por volta de 3, sem me expor a nenhum risco nítido.
No dia 6, não lembro de ter sentido nada. Mas no dia 7, tive novamente dor de cabeça, após visitar um projeto social no bairro do Uruguai, na Cidade Baixa, junto com meu amigo Marcos Rezende. Juntos, fomos dialogar sobre os cuidado com aquela comunidade, a implementação de pré-vestibular remoto-digital para alguns alunos, a criação de novos projetos etc.
Ao chegar em casa nesse dia, ainda tomei um copo de cerveja gelada, mas não segui. Até hoje uma garrafa inteira e boa parte da outra residem na minha geladeira. Tinha que trabalhar e a dor de cabeça já havia sido resolvida com mais uma Dipirona e um prato gostoso de comida.
Aquela noite, entretanto, seria decisiva, uma espécie de Marco Zero, mesmo não sendo o zero. Fazia muito frio naquela madrugada em Salvador, a ponto de ser notícia de jornais. Acordei por volta de 5h da manhã, 1h30 antes do comum, com muito frio, o queixo batendo e uma leve sensação de desconforto respiratório. Até hesitei, mas logo dialoguei com uma amiga querida, que me incentivou a realmente fazer o que eu considerava: ir ao hospital imediatamente. O fiz e cheguei lá por volta de 7h já, após me proteger muito para não contaminar o motorista de Uber que eu obrigatoriamente teria que tomar, pois não dirijo nem tenho carro.
Fui atendido no Hospital da Bahia, quase ou mais de 2h depois, e orientado a me tratar como se estivesse contaminado pela Covid-19, a Sars-Cov-2. O médico me avisara que eu certamente tinha uma infecção viral, que poderia ser dengue, chicungunha, zika vírus, uma gripe forte ou o maldito e famigerado Coronavírus que parara o Planeta Terra desde o início do ano, findando com 2020, um ano (in)acabado.
Veio logo à mente a dor de cabeça que senti a partir do dia 4, à qual não dei tanta importância. Comecei a me medicar, mas não irei aqui descrever os remédios, pois a medicação por conta própria, sem orientação, pode ser perigosa. Embora eu também tenha certeza que me medicar no início da doença, tanto pela ciência quanto pela fé que me move, me salvou de complicações, do pior. E também eu precise frisar, por coerência, que sou privilegiado por ter acesso a um plano de saúde de boa qualidade, como dependente da minha avó, funcionária pública aposentada.
Essa realidade é diferente da maioria das pessoas do Brasil, destinadas ao sofrimento do serviço público. Mas aqui devo fazer mais uma ponderação: com todos os males, o SUS (Sistema Único de Saúde) segue sendo nosso principal aliado na proteção dos mais pobres, dos que mais precisam, daquelas e daqueles que foram abandonados à sorte ou ao azar. É um sistema consistente, forte, que não só desafoga, como estrutura, o conjunto da saúde nacional.
Nos dias que se seguiram após a ida ao hospital, inclusive com dificuldade para encontrar algum dos remédios prescritos pelo médico da emergência, fiquei assintomático. Percorri assim, sem parar o trabalho intenso, os dias 9, 10, 11, 12, 13 e 14 de julho. Comi bem, de forma equilibrada (como nunca antes), embora tenha também metido o pé na jaca mesmo diante da suspeita, fazendo um bolo de chocolate com beijinho para me acalmar.
Recebi uma imensa onda de solidariedade de amigos próximos, que me auxiliaram deixando em minha porta comida, frutas, água, chá, fazendo ligações e enviando mensagens de apoio e que me ajudaram, em grande medida, a passar por esse período de dúvida, angústia e ansiedade. Muitos também me trouxeram remédios, água e até utensílios pessoais.
No dia 11, um sábado, quando completaram-se 7 dias do meu primeiro sintoma, meu tio, que já tinha sido contaminado no início da pandemia e teoricamente está imune, me pegou em casa para que eu pudesse fazer o teste do SWAB RT-PCR no drive-thru de uma unidade de saúde pública. Esse é o incômodo exame do cotonete, que deve ser feito no período de infecção, pois só detecta o vírus ativo nas narinas e garganta do paciente.
O RT-PCR é diferente do exame de sorologia (exame de sangue nosso de cada dia), que detecta se o paciente teve contato com o vírus ativo (IGM) e também se desenvolveu anticorpos (IGG) – e que deve ser feito, este, já em fase mais avançada da doença, segundo os médicos e cientistas.
No dia 14, já em dúvida se eu realmente estava contaminado diante do meu bom estado físico, mas mantendo meu isolamento rigoroso, tive que deixar uma reunião virtual na plataforma Zoom porque meu telefone tocara, por volta de 15h, para me informar o resultado do exame. E era positivo.
Positivo apenas o exame, porque, a partir dali, comecei a entrar em um poço de ansiedade, mesmo puxado pelas cordas de amigos, irmãos, familiares, pessoas de luz que mostraram que sou muito amado.
Chorei, me desesperei, bati o pé, dei meu ‘Show da Xuxa’, como brinco, agora, aos risos.
Informei aos amigos mais próximos, aos amigos que tiveram contato comigo quando ainda não tinha percebido os sintomas e que precisavam testar também (foram dois, que testaram negativo) e ao meu namorado, que não encontro há alguns meses. Fui acalmado prontamente, devido aos meus sintomas leves, que demonstravam evolução rápida e bem-sucedida do quadro de infecção que, àquela altura, já começava a arrefecer no corpo.
Passei a buscar outras orientações médicas, pois àquela altura já havia sido encerrado o tratamento com antibióticos, outras substâncias (não, não usei Cloroquina) e com vitaminas para fortalecimento da minha imunidade, da reação do corpo à batalha contra o vírus.
A sensação do resultado do exame, que talvez possa ser comparado ao diagnóstico enfrentado por soropositivos de HIV-AIDS três décadas atrás e até nos dias atuais, me fazia as pernas tremer. A sensação provocada pela doença também era estranha, pois logo no dia seguinte, o dia 15 de julho, começara a sentir um grande peso e fraqueza nos membros inferiores.
Levantava e parecia que não ia conseguir ficar em pé. Não tinha firmeza. Fraquejava. Um peso brutal sobre minhas costas, incentivado pelo meu estado psicológico, mas longe de ser somente reflexo da ansiedade, também me deixara profundamente preocupado. Angustiado. Sem reação outra a não ser a do choro, a do medo, a da inércia e tantas outras. Simultâneas.
No dia 16 pela manhã, uma quinta-feira, eu iria a uma clínica fazer um raio-x do pulmão e uma tomografia, para garantir informações concretas do meu estado respiratório. Programei com o médico, amigo de uma amiga, mas aquele turno foi muito mais movimentado do que pensara. Acordei destruído fisicamente, como se houvera sido espancado ou carregasse um elefante nas costas. O peso era brutal, atravessava as costas e o peito, fazia as pernas tremelicar e não permitia que a cabeça pensasse hora alguma de forma centrada, racional. Como era possível aquilo?
Tinha combinado com um amigo motorista de van, táxi e Uber – este também teoricamente imunizado após ter sido contaminado, entubado e ter tido a vida salva contra a forma grave da doença– que ele me pegaria às 10h15 para o exame que aconteceria às 11h no Chame-Chame, aqui perto, na região da Barra. Por volta de 8h, já não aguentava mais o baque sobre o meu corpo e, após duvidar várias vezes dos meus próprios sintomas (essa é uma realidade dura dessa doença), liguei pedindo que viesse mais cedo.
Considerava a alternativa de ir direto para a emergência, em vez de me submeter aos exames, mas ele não estava programado para sair tão cedo e demorou um pouco, chegando por volta de 10h. Chegamos à clínica, mas logo fomos informados de que os aparelhos que eu tratava como minhas salvações – um tomógrafo e um raio-x – estavam danificados e só voltariam a funcionar no dia seguinte, quando eu poderia voltar.
Mas meu corpo gritava, tinha pressa. Parecia que não resistiria. Não tinha como esperar.
Aqui devo dizer, a título de defender-me de possível pieguice que este texto carrega(rá), que as variáveis psicológicas possuem uma forte influência sobre nós em momentos dessa monta. As notícias de TV, dos jornais, da internet e do WhatsApp sobre o impacto brutal dessa doença sobre o corpo humano – deixando pessoas por semanas entubadas, perdendo massa corpórea e indo à morte sem sequer despedir-se dos seus amores – nos jogam para o lugar da desesperança.
Quando do diagnóstico, tememos por nós, pela solidão que poderíamos enfrentar em um momento tão especial (sem juízo de valor de positividade ou negatividade) que é a morte, a partida.
Tenho 25 anos de idade, completados em 30 de março de 2020, já durante a pandemia da Covid-19. Sou jovem e muito mais passível de recuperação, de acordo com os estudos científicos. Mas outros elementos, aqui, são muito mais vogais durante vivências desse dimensão. Fazem-se presentes de forma pesada, dando pontapés e bicudas nas certezas científicas que evocamos (e devemos continuar evocando diante dos ignorantes, dos ignóbeis que deseducam) diariamente.
Digo isto para frisar que recebi várias orientações e feedbacks de médicos amigos de amigos meus, de alta experiência hospitalar anterior e também no combate à Covid-19, que esse cansaço que enfrentei é um sintoma comum do final da infecção. Interpreto, agora por conta própria, que trata-se de um momento de pós-vitória do corpo, ao jogar-se, vencedor, nos chãos da trincheira na qual derrotou o vírus. Deixa, ali, para o seu dono o papel de cuidar dele. Seu papel está feito já.
Contudo, mesmo diante desta interpretação racional, científica e por fim empírica (no dado que diz respeito à minha interpretação), o que eu sentia era muito mais forte. Não poderia voltar para casa sem entender o que estava acontecendo. Os mais de cinco litros de água (sem contar chás, sucos e outros líquidos) que eu passei a consumir diariamente durante a infecção, mesmo nos dias assintomáticos que a doença parecia inexistir, não seriam capazes de dar conta do que uma bolsa de soro, que eu tomei mais à frente nessa linha do tempo, foi capaz.
Rumei com meu amigo para a emergência do Hospital Português, em desespero. Entramos ofegantes, corridos, pela porta da ala da Covid, buscando atendimento. Minha saturação de oxigênio (variando entre 97 e 100, taxa boa), minha pressão arterial (13/7, muito melhor que o meu padrão, pasmem!) e minha temperatura (36.5, sem febre) foram aferidas antes mesmo da minha ficha de atendimento ser produzida e assinada.
Mais uma vez deparando-me diante do meu privilégio de classe média, estava no consultório médico em menos de 10 minutos.
Recebi atendimento digno, atencioso, técnico. Fui imediatamente (mesmo!) colocado em uma bolsa de soro, para me hidratar pela veia, e tirei sangue da artéria para verificar se meu pulmão apresentava sinais de embolia.
Fiz raio-x do peito, do tórax, e uma dúvida no resultado fez com que eu fosse direcionado para a prova final, uma tomografia do pulmão. Estava com fome, sozinho (meu amigo, mesmo teoricamente imune, não pôde subir e me esperava lá embaixo) e não podia me alimentar devido à necessidade óbvia de um exame de imagem mais detalhado.
Os exames deram todos normais, meu pulmão apresenta(va) 100% de funcionamento, limpo, sem manchas, embolia ou qualquer tipo de trombo.
A tranquilidade pairou a partir dali, mas principalmente porque, antes mesmo do resultado, quando a bolsa de soro terminara de me hidratar, o alívio me encontrava novamente, removendo o peso que eu sentia no corpo. Mesmo sem me alimentar, aquele horror melhorava significativamente. Voltei para casa por volta de 18h30, comecei a ocupar a mente, e desde então estou bem, em recuperação animada.
Ainda tenho tosse, cansaço pelo mero trabalho de digitar sentado no computador e o corpo age com moleza, como se não quisesse fazer nada do que eu mando. Ainda penso lentamente e mantenho as vitaminas C no cardápio matinal e noturno, para fortalecer a imunidade e garantir minha travessia rumo à recuperação total do meu perfil atlético, fitness, malhadão. Sinto-me magro também, vejam só… Pernas murchas.
Porém, as horas que passei na emergência entre todos os procedimentos, cerca de 7h pelas minhas contas, foram a experiência mais dura dessa trajetória que começo a terminar de contar a partir daqui.
O medo mais duro que me abateu, devo destacar, era o da não-despedida.
O medo da internação e de ser entubado, caso necessário, ecoava na minha cabeça de forma intensa. Eu ainda choro ao contar esse detalhe, porque sem dúvida, é o fato mais pessoal dessa história real.
Lembro das mensagens que troquei com minha mãe, pelo WhatsApp, em que ela me pediu: “não deixem te dar sedativo, internar ou entubar. Não permita que façam isso, quero te ver”. Ela insistia nisso a cada novo tempo de espera do resultado dos meus exames.
Passava pela minha cabeça fervilhante essa possibilidade e, pior, a impossibilidade de me despedir de quem eu amo tanto. De ir embora sozinho, num hospital, sem abraçar, me despedir de e acalmar minha mãe, minha avó, minha família, meus amigos que tanto me apoiaram (nesse episódio e em vários outros da vida). Medo de não ver mais Thiago, meu amor,, nem que para alisá-lo o rosto e dar tchau. Medo de ir.
Os dias 17 e 18 de julho foram muito bons, mas essa sensação ainda me causa temor. Sei que nada acontecerá comigo mais, pois recorro à objetividade científica que nada me valeu na hora que meu psicológico mais pediu que valesse. Mas dormir direto, sem acordar à noite, ainda é difícil porque a sensação de que pode ir embora continua sendo algo marcante. Tenho um pós-trauma para resolver, agora.
Esse texto, que eu relutei um pouco a escrever, termina de ser escrito nesta madrugada/manhã de domingo, dia 19, sem uma revisão ortográfica, de conteúdo e de português, pois deve ser espontâneo, da alma – e por isso também pode ser repetitivo, incongruente e confuso em momentos.
Mas não sem ter um objetivo.
Ele é escrito após o ciclo de 14 dias da doença encerrado, quando eu já posso me deslocar para fora de casa (embora não vá fazê-lo por mais uma semana e, quando começar a fazer, continuarei tomando todas as precauções necessárias). Mas, principalmente, esse texto é escrito para falar de amor e de cuidado.
Peço que cuidem de vocês, que cuidem dos seus e que cuidem dos que também podem não parecer serem seus, mas são porque enfrentam um ciclo de pobreza e desigualdade ao qual vocês também podem estar ou poderiam estar submetidos. Ciclo de desigualdade esse que foi potencializado à potência máxima com a pandemia do Coronavírus.
Protejam-se, cuidem. Não permitam que o medo que me abateu chegue a vocês ou torne-se a realidade da qual fui protegido e livrado.
No mais, quero dizer a todes, todas e todos que me deram qualquer conselho, dica, palavra de carinho, que preocupou-se comigo, e também aos que não souberam e estão sendo informados agora, que eu amo todos vocês. E que a oportunidade de viver, me dada pelas energias invisíveis do nosso mundo, da nossa natureza, será honrada à altura, cuidando de quem mais é vulnerável e lutando em nome das quase 80 mil vidas brasileiras já perdidas desde o início desta pandemia do descaso, do racismo.
Somos luta. Somos luto. Mas, principalmente, somos vida.
Em nomes de todos que cuidaram de mim, só posso saudar ela, a mãe.
Odoyá, Iyá Ori! Eru Iyá! Omi O!
*Yuri Silva é jornalista, repórter, Consultor e Assessor de Comunicação, ativista negro antirracista e sobrevivente da pandemia da Covid-19 e da pandemia histórica e centenária do racismo