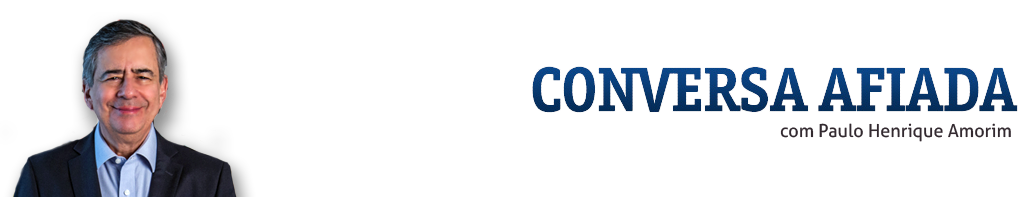O Conversa Afiada reproduz do Blog do Miro:
Por John Pilger, no site português O Diário:
Por que sucumbiu tão grande parte do jornalismo à propaganda? Por que são a censura e a distorção a prática padrão? Por que é a BBC tão frequentemente uma porta-voz do poder rapinante? Por que enganam os seus leitores o New York Times e o Washington Post?
Por que não ensinam os jornalistas jovens a entender as agendas dos media e a desafiar as afirmações altissonantes e os baixos objectivos da falsa objectividade? E por que não lhes ensinam que a essência de grande parte do que se publica nos media de referência não tem a ver com informação e sim com poder?
Estas são questões urgentes. O mundo está a enfrentar a perspectiva de uma grande guerra, talvez nuclear – com os Estados Unidos claramente determinados a isolar e provocar a Rússia e finalmente a China. Esta verdade está a ser invertida e posta às avessas por jornalistas, incluindo aqueles que promoveram as mentiras que levaram ao banho de sangue no Iraque em 2003.
Os tempos que vivemos são tão perigosos e tão distorcidos na percepção pública que a propaganda já não é, como a denominou Edward Bernays, um “governo invisível”. Ela é o governo. Domina directamente sem receio de contradição e o seu principal objectivo é o domínio de nós próprios: do nosso sentido do mundo, da nossa capacidade para separar a verdade da mentira.
A era da informação é realmente uma era dos media. Temos guerra pelos media; censura pelos media; demonologia pelos media; retaliação pelos media; diversionismo pelos media – uma linha de montagem surreal de clichés obedientes e pressupostos falsos.
O poder de criar uma nova “realidade” tem estado em construção há muito tempo. Quarenta e cinco anos atrás, um livro intitulado The Greening of America provocou sensação. Na capa constavam estas palavras: “Há uma revolução que se aproxima. Ela não será como as revoluções do passado. Ela terá origem no indivíduo”.
Eu era correspondente nos Estados Unidos naquele tempo e recordo a elevação ao status de guru do seu autor, um jovem académico de Yale, Charles Reich. A sua mensagem era que dizer a verdade e a acção política haviam fracassado e só a “cultura” e a introspecção podiam mudar o mundo.
Dentro de poucos anos, conduzido pelas forças do lucro, o culto do “eu-ismo” quase havia esmagado o nosso sentido de actuação conjunta, o nosso sentido de justiça social e de internacionalismo. Classe, género e raça eram separados. O pessoal era a política e os media era a mensagem.
Depois da guerra-fria, a fabricação de novas “ameaças” completou a desorientação política daqueles que, 20 anos antes, teriam constituído uma oposição veemente.
Em 2003 filmei em Washington uma entrevista com Charles Lewis, distinto jornalista de investigação americano. Discutimos a invasão do Iraque de uns poucos meses antes. Perguntei-lhe: “E se os media mais livres do mundo tivessem desafiado seriamente George Bush e Donald Rumsfeld e investigado as suas afirmações, ao invés de canalizar o que se revelou como propaganda em bruto?” Ele respondeu que se nós jornalistas tivéssemos feito o nosso trabalho “haveria uma possibilidade muito boa de não termos ido à guerra no Iraque”.
Trata-se de uma declaração chocante e que é partilhada por outros jornalistas famosos a quem fiz a mesma pergunta. Dan Rather, anteriormente da CBS, deu-me a mesma resposta. David Rose do Observer e jornalistas e produtores antigos da BBC, que pediram para permanecer anónimos, deram-me a mesma resposta.
Por outras palavras, tivessem jornalistas cumprido a sua tarefa, tivessem eles questionado e investigado a propaganda ao invés de ampliá-la, e centenas de milhares de homens, mulheres e crianças podiam hoje estar vivos, milhões podiam não terem fugido dos seus lares; a guerra sectária entre sunitas e xiitas podia não ter sido desencadeada e o infame Estado Islâmico podia agora não existir.
Mesmo agora, apesar dos milhões que foram às ruas em protesto, a maior parte do público nos países ocidentais mal faz ideia da escala absoluta do crime cometido pelos nossos governos no Iraque. Mesmo com poucos conscientes disso, nos 12 anos que precederam a invasão os governos estado-unidense e britânico activaram um holocausto ao negarem meios de vida à população civil do Iraque.
Estas são as palavras do alto responsável britânico pelas sanções ao Iraque na década de 1990 – um assédio medieval que provocou a morte de meio milhão de crianças com menos de cinco anos, informou a UNICEF. O nome do responsável é Carne Ross. No Foreign Office em Londres ele era conhecido como “Sr. Iraque”. Hoje é alguém que conta a verdade sobre como governos enganam e como jornalistas propagam o engano de bom grado. “Nós alimentávamos jornalistas com factóides de inteligência expurgada”, contou-me, “ou congelávamo-los do lado de fora”.
O principal denunciante durante este período terrível e mudo foi Denis Halliday. Então secretário-geral adjunto das Nações Unidas e alto responsável da ONU no Iraque, Halliday preferiu renunciar a implementar políticas que descreveu como genocidas. Estima que as sanções mataram mais de um milhão de iraquianos.
O que aconteceu a seguir a Halliday foi instrutivo. Foi camuflado. Ou foi vilipendiado. No programa Newsnight da BBC, o apresentador Jeremy Paxman sussurrou-lhe: “Não será você um apologista de Saddam Hussein?” O Guardian recentemente descreveu isto como um dos “momentos memoráveis” de Paxman. Na semana passada, Paxman assinou um contrato de £1 milhão para um livro.
Os serviçais do silenciamento (suppression) fizeram bem o seu trabalho. Considerem os efeitos. Em 2013, um inquérito ComRes descobriu que a maioria do público britânico acreditava que o número de baixas no Iraque era de menos de 10 mil – uma minúscula fracção da verdade. Um rasto de sangue que vai desde o Iraque até Londres foi lavado até quase ficar limpo.
Diz-se que Rupert Murdoch é o padrinho da mafia dos media e ninguém deveria pôr em dúvida o poder acrescido dos seus jornais – 127 ao todo, com uma circulação somada de 40 milhões, e da sua rede Fox. Mas a influência do império Murdoch não é maior do que o seu reflexo na generalidade dos media.
A propaganda mais eficaz não se encontra no Sun ou na Fox News – mas sob um halo liberal. Quando o New York Times publicou afirmações de que Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa, acreditou-se nas suas provas falsas porque não era a Fox News; era o New York Times.
O mesmo é verdadeiro em relação ao Washington Post e ao Guardian, ambos os quais desempenharam um papel crítico para condicionar os seus leitores a aceitar uma nova e perigosa guerra-fria. Todos estes três jornais liberais adulteraram acontecimentos na Ucrânia como actos pérfidos da Rússia – quando, de facto, o golpe fascista na Ucrânia foi obra dos Estados Unidos, ajudados pela Alemanha e pela NATO.
A inversão da realidade é tão predominante que o cerco militar de Washington e a intimidação da Rússia não é contestada. Isso não é sequer notícia, mas é silenciado por detrás de uma campanha de difamação e medo do género daquela que assistíamos durante a primeira guerra-fria.
Mais uma vez, o império do mal está a vir apanhar-nos, liderado por um outro Stáline ou, perversamente, um novo Hitler. Nomeie o seu demónio e dispare.
O silenciamento da verdade acerca da Ucrânia é um dos mais completos blackouts noticiosos de que me posso lembrar. A maior acumulação militar do ocidente no Cáucaso e na Europa oriental desde a segunda guerra mundial é censurada. A ajuda secreta de Washington a Kiev e suas brigadas neonazis responsáveis por crimes de guerra contra a população do Leste da Ucrânia são censurados. Provas que contradigam a propaganda de que a Rússia foi responsável pelo derrube de um avião da Malaysian são censuradas.
E, mais uma vez, os media supostamente liberais são os censores. Sem mencionar factos, sem prova, um jornalista identificou um líder pró-Rússia na Ucrânia como o homem que derrubou o avião de carreira. Este homem, escreveu ele, era conhecido como O Demónio. Era um homem aterrador que assustou o jornalista. Era essa a prova.
Grande parte dos media ocidentais tem-se esforçado por apresentar a população de etnia russa da Ucrânia como intrusos (outsiders) no seu próprio país, quase nunca como ucranianos à procura de uma federação dentro da Ucrânia nem como cidadãos ucranianos a resistirem a um golpe orquestrado no estrangeiro contra o seu governo eleito.
O que o presidente russo tem a dizer não tem consequência; ele é um vilão de pantomina que pode ser maltratado com impunidade. Um general americano que encabeça a NATO, um sucessor directo do Dr. Strangelove – um general Breedlove – afirma rotineiramente invasões russos sem nem um fragmento de prova visual. A sua personificação do general Jack D. Ripper, de Stanley Kubrick, é uma caracterização perfeita.
Quarenta mil ruskies estavam a amontoar-se na fronteira, segundo Breedlove. Isso foi suficiente para o New York Times, o Washington Post e o Observer – este último tendo-se anteriormente distinguido com mentiras e falsificações que apoiavam a invasão de Blair do Iraque, como revelou o seu antigo repórter David Rose.
Há quase a joie d’esprit de uma reunião de classe. Os tocadores de tambor do Washington Post são exactamente os mesmos editorialistas que declararam a existência de armas de destruição em massa de Saddam como “factos indiscutíveis”.
“Se quiser saber”, escreveu Robert Parry, “como o mundo poderia afundar-se numa terceira guerra mundial – tal como aconteceu com a primeira guerra mundial um século atrás – tudo o que precisa fazer é olhar para a loucura que virtualmente envolveu toda a estrutura política e dos media dos EUA sobre a Ucrânia onde uma falsa narrativa de chapéus brancos contra chapéus pretos se desencadeou a princípio e se demonstrou impermeável a factos ou à razão”.
Parry, o jornalista que revelou o [escândalo] Irão-Contra, é um dos poucos que investiga o papel central dos media neste ” game of chicken “, como o chamou o ministro russo dos Estrangeiros. Mas será um jogo? Quando escrevo isto, o Congresso dos EUA vota a Resolução 758 que, em poucas palavras, diz: “Vamos preparar-nos para a guerra com a Rússia”.
No século XIX o escritor Alexander Herzen descreveu o liberalismo laico como “a religião final, embora a sua igreja não seja do outro mundo mas sim deste”. Hoje este direito divino é muito mais violento e perigoso do que qualquer coisa que o mundo muçulmano vomite, apesar de o seu maior triunfo ser talvez a ilusão da informação livre e aberta.
Nos noticiários, países inteiros são desaparecidos. A Arábia Saudita, a fonte de extremismo e de terror apoiado pelo ocidente não é notícia, excepto quando faz cair o preço do petróleo. O Iémen aguentou doze anos de ataques de drones americanos. Quem sabe disso? Quem se importa?
Em 2009, a University of the West of England publicou os resultados de um estudo de dez anos de cobertura da Venezuela feita pela BBC. Das 304 reportagens difundidas, apenas três mencionavam qualquer das políticas positivas introduzidas pelo governo de Hugo Chávez. O programa de alfabetização da história humana mal recebeu uma referência de passagem.
Na Europa e nos Estados Unidos, milhões de leitores e telespectadores não sabem quase nada acerca das notáveis mudanças, vivificantes, implementadas na América Latina, muitas delas inspiradas por Chávez. Tal como a BBC, a reportagens do New York Times, do Washington Post, do Guardian e do resto dos respeitáveis media ocidentais eram notoriamente de má-fé. Chávez foi ridicularizado mesmo no seu leito de morte. Como é que isto é explicado, pergunto, nas escolas de jornalismo? Por que é que milhões de pessoas na Grã-Bretanha são persuadidas de que é necessária uma punição colectiva chamada “austeridade”?
Na sequência do crash económico de 2008 revelou-se um sistema apodrecido. Durante uma fracção de segundo os bancos foram alinhados como vigaristas com obrigações para com o público que haviam traído.
Mas dentro de poucos meses – com excepção de algumas pedras lançadas sobre os excessivos “bónus” corporativos – a mensagem mudou. As fotos dos banqueiros culpados desvaneceram-se dos tablóides e algo chamado “austeridade” tornou-se o fardo de milhões de pessoas comuns. Houve alguma vez um truque de prestidigitação mais descarado?
Hoje muitas das condições básicas de vida civilizada na Grã-Bretanha estão a ser desmanteladas a fim de reembolsar uma dívida fraudulenta – a dívida de vigaristas. Dizem que os cortes da “austeridade” montam a £83 mil milhões. É esse quase exactamente o montante do imposto que os mesmos bancos e corporações como a Amazon e a News UK de Murdoch se escaparam. Além disso aos bancos vigaristas é concedido um subsídio anual de £100 mil milhões em seguro gratuito e garantias – um número que financiaria todo o Serviço Nacional de Saúde.
A crise económica é pura propaganda. Políticas extremistas dominam agora a Grã-Bretanha, os Estados Unidos, grande parte da Europa, Canadá e Austrália. Quem defende os interesses da maioria? Quem está a contar a sua história? Quem está a manter o registo claro? Não é isso o que os jornalistas deveriam fazer?
Em 1977, Carl Bernsein, que ganhou fama com o Watergate, revelou que mais de 400 jornalistas e executivos dos noticiários trabalhavam para a CIA. Neles incluíam-se jornalistas do New York Times, da Time e de redes de TV. Em 1991, Richard Norton Taylor, do Guardian, revelou algo semelhante neste país.
Nada disto é necessário nos dias de hoje. Duvido que alguém pague o Washington Post e muitos outros media para acusar Edward Snowden de ajudar o terrorismo. Duvido que alguém pague aqueles que rotineiramente enlameiam Julian Assange – embora outros prémios possam ser abundantes.
Para mim está claro que a principal razão porque Assange atraiu tanto veneno, despeito e inveja é que a WikiLeaks destruiu a fachada de uma elite política corrupta mantida a flutuar por jornalistas. Ao anunciar uma era extraordinária de revelações, Assange fez inimigos por desvendar e envergonhar os porteiros dos media, inclusive no jornal que publicou e se apropriou do seu grande furo de reportagem. Ele tornou-se não só um alvo como uma galinha dos ovos de ouro.
Contratos de livros lucrativos e filmes de Hollywood foram feitos e carreiras nos media lançadas ou avançadas nas costas do WikiLeaks e do seu fundador. Pessoas ganharam muito dinheiro, enquanto a WikiLeaks tem lutado para sobreviver.
Nada disto foi mencionado dia 1 de Dezembro em Estocolmo quando o editor do Guardian, Alan Rusbridger, partilhou com Edward Snowden o Right Livelihood Award, conhecido como o Prémio Nobel da Paz alternativo. O chocante neste evento foi que Assange e a WikiLeaks foram vaporizados. Eles não existiam. Eles eram não pessoas.
Ninguém levantou a voz pelo homem que foi o pioneiro da denúncia digital e forneceu ao Guardian um dos maiores furos da história. Além disso, foi Assange e sua equipe da WikiLeaks quem efectivamente – e brilhantemente – resgatou Edward Snowden de Hong Kong e o enviou para a segurança. Nem uma palavra.
O que tornou esta censura por omissão tão irónica, pungente e desgraçada foi o facto de que cerimónia se realizou no parlamento sueco – cujo silêncio covarde sobre o caso Assange tem sido conivente com um grotesco aborto de justiça em Estocolmo.
“Quando a verdade é substituída pelo silêncio”, disse o dissidente soviético Yevtushenko, “o silêncio é uma mentira”.
É esta espécie de silêncio que nós jornalistas precisamos de romper. Precisamos de olhar o espelho. Precisamos de prestar contas quanto aos media que não as prestam e que servem o poder e [alimentam] uma psicose que ameaça uma guerra mundial.
No século XVIII, Edmund Burke descreveu o papel da imprensa como um Quarto Estado controlando os poderosos. Será que isto era verdade? Ela certamente já não faz isso. O que precisamos é de um Quinto Estado: um jornalismo que monitore, desconstrua, faça contrapropaganda e ensine os jovens a serem agentes do povo, não do poder. Precisamos do que os russos chamavam perestroika – uma insurreição do conhecimento subjugado. Eu chamaria a isto jornalismo real.
Passam agora 100 anos do início da Primeira Guerra Mundial. Repórteres foram então premiados e condecorados pelo seu silêncio e conivência. Na altura da carnificina, o primeiro-ministro britânico David Lloyd George confidenciou a C.P. Scott, editor do Manchester Guardian: “Se o povo realmente soubesse [a verdade] a guerra seria travada amanhã, mas naturalmente eles não sabem e não podem saber”.
É tempo de saberem.
* O texto acima é a transcrição do discurso de John Pilger no Logan Symposium, “Building an Alliance Against Secrecy, Surveillance & Censorship”, organizado pelo Centre for Investigative Journalism, Londres, 5-7/Dezembro/2014.