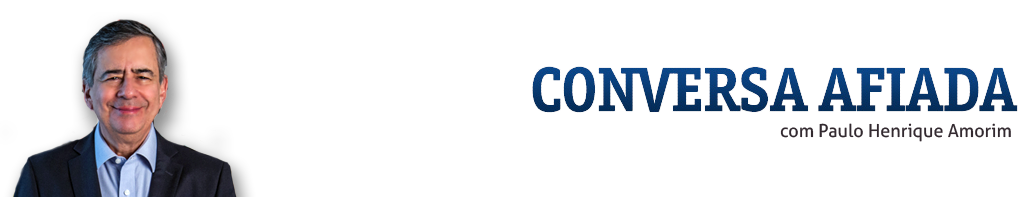O Conversa Afiada publica artigo do jornalista Luiz Cláudio Cunha:
Dilma: a tortura julgada, a anistia sangrada
Luiz Cláudio Cunha (*)
Dilma Rousseff, a primeira mulher eleita presidente, deve encarar um desafio que intimidou os cinco homens que a antecederam no Palácio do Planalto a partir de 1985, quando acabou a ditadura: a tortura e a impunidade aos torturadores do golpe de 1964.
José Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco, FHC e Lula nunca tiveram a cara e a coragem de botar o dedo na ferida da impunidade, chancelada pela medrosa decisão de abril passado do Supremo Tribunal Federal, que reafirmou o perdão aos militares e policiais que mataram e machucaram presos políticos. Na quarta-feira passada (4), quando o país ainda vivia a ressaca da vitória no domingo da primeira ex-guerrilheira a chegar ao poder supremo da Nação, o incansável Ministério Público Federal em São Paulo (MPF-SP) ajuizou ação civil pública pedindo a declaração da responsabilidade civil de quatro militares reformados (três oficiais das Forças Armadas e um da PM paulista) sobre mortes ou desaparecimento forçado de seis pessoas e a tortura de outras 20 detidas em 1970 pela Operação Bandeirante (Oban), o berço de dor e sangue do DOI-CODI, a sigla maldita que marcou o regime e assombrou os brasileiros.
Dilma Vana Rousseff, codinome ‘Estela’, uma das lideranças da Vanguarda Armada Revolucionária Palmares (VAR-Palmares), empresta sua voz e seu drama nessa ação para acusar o capitão do Exército Maurício Lopes Lima, responsável pela pancadaria na futura presidente e em outros 15 militantes políticos. Presa na capital paulista numa tarde de janeiro de 1970, Dilma foi levada para a Oban da rua Tutóia, onde cinco anos depois morreria o jornalista Vladimir Herzog. Sobreviveu a 22 dias de intensa tortura, como contaria em 2003 num raro desabafo ao repórter Luiz Macklouf Carvalho: “Levei muita palmatória, me botaram no pau-de-arara, me deram choque, muito choque. Comecei a ter hemorragia, mas eu aguentei. Não disse nem onde morava. Um dia, tive uma hemorragia muito grande, hemorragia mesmo, como menstruação. Tiveram que me levar para o Hospital Central do Exército. Lá encontrei uma menina da ALN (Ação Libertadora Nacional): ‘Pula um pouco no quarto para a hemorragia não parar e você não ter que voltar pra Oban’, me aconselhou ela”.
O relato formal, revelado pelo projeto Brasil Nunca Mais da Arquidiocese de São Paulo, está transcrito nas páginas 30 e 31 do processo 366/70 da Auditoria Militar. Revela-se já nos autos o temperamento forte de Dilma, então com 22 anos, logo após ser transferida para o presídio Tiradentes e ali mesmo ameaçada de um retorno ao inferno: “...na semana passada, dois elementos da equipe chefiada pelo capitão Maurício compareceram ao presídio e ameaçaram a interroganda de novas sevícias...”, denunciou a presa. Dilma contou na Justiça Militar que perguntou aos emissários da Oban se eles estavam autorizados pelo Poder Judiciário. A resposta do militar resumia o deboche daqueles tempos: “Você vai ver o que é o juiz lá na Oban!...”
Hoje tenente-coronel reformado, Maurício defendeu-se no jornal O Estado de S.Paulo: “Ela esteve comigo somente um dia e eu não a agredi, em momento algum”. A ação do MPF, subscrita pelo procurador regional Marlon Weichert e outros cinco procuradores, cita dois casos notórios entre os seis mortos: Virgílio Gomes da Silva, codinome ‘Jonas’, o líder do grupo que sequestrou o embaixador americano Burke Elbrick (integrado também por Franklin Martins e Fernando Gabeira), e Frei Tito, o dominicano preso pelo delegado Sérgio Fleury e que, transtornado pela tortura, acabou se enforcando meses depois num convento na França. “Tortura é crime contra a humanidade, imprescritível, tanto no campo cível como no penal”, dizem os procuradores que subscrevem a ação.
Apenas dois dos nove ministros do STF - Ricardo Lewandowski e Carlos Ayres Brito - concordaram com a ação da OAB, que contestava a anistia aos agentes da repressão. “Um torturador não comete crime político”, justificou Ayres Brito. “Um torturador é um monstro, um desnaturado, um tarado. Um torturador é aquele que experimenta o mais intenso dos prazeres diante do mais intenso sofrimento alheio perpetrado por ele. É uma espécie de cascavel de ferocidade tal que morde ao som dos próprios chocalhos. Não se pode ter condescendência com o torturador. A humanidade tem o dever de odiar seus ofensores porque o perdão coletivo é falta de memória e de vergonha”.
Apesar da veemência de Ayres Brito, o relator da ação contra a anistia, ministro Eros Grau, ele mesmo um ex-comunista preso e torturado no DOI-CODI paulista, manteve sua posição contrária: “A ação proposta pela OAB fere acordo histórico que permeou a luta por uma anistia ampla, geral e irrestrita”. Grau deve estar esquecido ou desinformado, algo imperdoável para quem é juiz da Suprema Corte e também sobrevivente da tortura. A anistia de 1979 não é produto de um consenso nacional. É uma lei gestada pela ordem vigente, blindada para proteger seus agentes e desenhada de cima para baixo para ser aprovada, sem contestações ou ameaças, pela confortável maioria parlamentar que o governo do general João Figueiredo tinha no Congresso: 221 votos da ARENA, a legenda da ditadura, contra 186 do MDB, o partido da oposição. Nada podia dar errado, muito menos a anistia controlada.
Amplo e irrestrito, como devia saber o ministro Grau, era o perdão indulgente que o regime autoconcedeu aos agentes dos seus órgãos de segurança. Durante semanas, o núcleo duro do Planalto de Figueiredo lapidou as 18 palavras do parágrafo 1° do Art. 1° da lei que abençoava todos os que cometeram “crimes políticos ou conexos com estes” e que não foram condenados. Assim, espertamente, decidiu-se que abusos de repressão eram “conexos” e, se um carcereiro do DOI-CODI fosse acusado de torturar um preso, ele poderia replicar que cometera um ato conexo a um crime político. Assim, numa penada só, anistiava-se o torturado e o torturador.
A discussão do texto começou numa comissão mista do Congresso onde a ARENA tinha 13 das 20 cadeiras. Tateava-se com tanto cuidado que a oposição conseguiu que parentes de desaparecidos pudessem requerer do Estado apenas uma “declaração de ausência da pessoa”, já que resgatar o cadáver era algo impensável. Até que, em 22 de agosto de 1979, numa sessão com nove horas de debate, o Governo Figueiredo aprovou sua anistia, a 48ª da história brasileira. Com a decisão, três dezenas de presos políticos do país encerraram a greve de fome de 32 dias que pedia exatamente uma anistia ampla, geral e irrestrita, apesar da credulidade do ministro Grau.
Com a pressão da ditadura, aprovou-se uma lei que não era ampla (não beneficiava os chamados ‘terroristas’ presos), nem geral (fazia distinção entre os crimes perdoados) e nem irrestrita (não devolvia aos punidos os cargos e patentes perdidos). Mesmo assim, o regime suou frio: ganhou na Câmara dos Deputados por apenas 206 votos contra 201, graças à deserção de 15 arenistas que se juntaram à oposição para tentar uma anistia mais ampliada. Se o Governo perdesse ali, ainda teria o colchão dócil do Senado, onde o MDB dispunha de apenas 25 senadores contra 41 da ARENA – dos quais 21 eram biônicos, parlamentares sem voto popular, mas absolutamente confiáveis, instalados ali pelo filtro militar do Planalto.
Não passa de mistificação ou simples má-fé, portanto, dizer que a anistia de 1979 é produto de um consenso nacional, placidamente discutido entre o regime e a sociedade. A oposição, na verdade, aceitou os anéis para não perder os dedos, já que até uma anistia controlada era melhor do que nada. Líderes históricos como Arraes, Brizola e Prestes puderam voltar, mas o governo continuava insistindo na tese do perigo ‘terrorista’. O fato real é que o único terrorismo que ainda vigorava no país era o do próprio Estado, que se dizia de ‘segurança nacional’. Bancas de jornal, publicações alternativas de oposição e siglas combativas da sociedade, como a OAB e a ABI, eram vítimas de bombas terroristas — e elas, com certeza, não vinham da esquerda.
Um dos mentores do ‘crime conexo’ e signatário da anistia de agosto de 1979 era o chefe do Serviço Nacional de Informações, o finado SNI, general Octávio Aguiar de Medeiros. Menos de dois anos depois, em abril de 1981, um Puma explodiu antes da hora no Riocentro, no Rio de Janeiro. Tinha a bordo dois agentes terroristas do Exército: um sargento que morreu com a bomba no colo e um capitão do DOI-CODI que sobreviveu impune e virou professor do Colégio Militar em Brasília. Um inquérito policial-militar do Exército apurou que o atentado foi planejado pelo coronel Freddie Perdigão. Era o chefe da agência do SNI do general Medeiros no Rio de Janeiro. Nada mais conexo do que isso.
Talvez o ex-preso político Eros Grau, agora ministro aposentado do STF, não soubesse disso, mas o Brasil espera que a ex-presa política Dilma Rousseff, prestes a assumir a presidência da República, tenha plena consciência dessas circunstâncias. Ela tem, por experiência de vida e de sangue, uma biografia que a diferencia bastante de seus antecessores, absolutamente complacentes e omissos nas questões mais candentes dos direitos humanos.
Fernando Henrique Cardoso, descendente de três gerações de generais e respeitado sociólogo de origem marxista, esperou o último dia de seu segundo mandato, em dezembro de 2002, para duplicar vergonhosamente os prazos de sigilo dos documentos oficiais que podem jogar luz sobre a história do país. Lula, um aclamado líder sindical que nasceu do movimento operário mais consciente e mais atingido pelo autoritarismo, sucedeu FHC na presidência, sob a natural expectativa de que iria corrigir aquele ato de lesa-conhecimento de seu antecessor tucano. E o que fez Lula? Nada, absolutamente nada para facilitar e agilizar o acesso à historia contingenciada pelos 21 anos de regime militar.
O sociólogo e o metalúrgico, assim, nivelaram-se na submissa inércia dos últimos 16 anos de governos tementes à eventual reação da caserna e seus generais de pijama. Uma grossa bobagem, já que nem os militares acreditam mais nesses fantasmas. Tanto que o site oficial do Exército, na internet, lipoaspirou sua própria história, que nasce na resistência ao invasor holandês em Guararapes, no século 17, passa pela Independência e pela República, exalta o Duque de Caxias e Rondon e desemboca nas duas Guerras Mundiais. Sumiu do portal a Intentona Comunista, que reservava o 27 de novembro para a ode de sempre aos mortos da sublevação de 1935, e evaporou-se toda a cantilena sobre 31 de março de 1964, santificada como a ‘Revolução Redentora’ pelos defensores do golpe. Tudo isso é um bom sinal, e um alento para que ninguém mais se acovarde diante dos desafios da história — como fizeram FHC, Lula e o Supremo Tribunal Federal.
Na lente da história, o Exército pode ser visto pelo bem e pelo mal.
Em solo italiano, nos anos 1944-45, a brava Força Expedicionária Brasileira (FEB) lutou pela liberdade na guerra contra o nazi-fascismo, com 25 mil homens que fizeram 20 mil prisioneiros nas tropas do III Reich.
Em solo brasileiro, na ditadura de 1964-85, o Exército e seus companheiros de armas usaram uma força estimada de 24 mil agentes da repressão que, na guerra contra a subversão, prenderam cerca de 50 mil brasileiros, quase 20 mil deles sofrendo algum tipo de tortura. Alguns não tiveram, como Dilma Rousseff, a ventura de sobreviver.
Na campanha antinazista da Itália, tombaram 463 brasileiros, entre pracinhas e oficiais.
Na cruzada antisubversiva do Brasil, caíram 339 dissidentes, entre mortos e desaparecidos, segundo o livro Direito à Memória e à Verdade, divulgado pelo Palácio do Planalto em 2007.
Se a coragem não é suficiente, a ameaça de constrangimento pode ser um alento decisivo para a presidente Dilma Rousseff encarar a questão da tortura, na democracia, com a mesma bravura com que a enfrentou em plena ditadura. Ao contrário do ministro Nelson Jobim, uma figura submissa aos quartéis que inibia qualquer ação mais afirmativa de Lula, Dilma terá ao seu lado o eleito governador gaúcho Tarso Genro, que na condição de ministro da Justiça defendeu abertamente a punição aos torturadores e a revisão da anistia para este tipo de crime, com uma lógica clara como o sol: "No regime militar nenhuma norma, nem o AI-5, permitia a tortura. Este delito não é político, é comum".
A desastrosa decisão da Suprema Corte brasileira, preservando a anistia para os torturadores, foi qualificada na ONU como “muito ruim”. A Alta Comissária da ONU para Direitos Humanos, a sul-africana Navi Pillay, justificou: “Não queremos impunidade e sempre lutaremos contra leis que proíbem investigações e punições”. O espanhol Fernando Mariño Menendez, jurista do Comitê da ONU, foi mais duro: “Isso é incrível, uma verdadeira afronta. Leis de anistia foram tradicionalmente formuladas por aqueles que cometeram crimes, seja qual for o lado. É um autoperdão que o século 21 não pode mais aceitar”. O equatoriano Luís Gallegos Chiriboga, perito da ONU sobre tortura, lembrou: “Há um consenso entre os órgãos da ONU de que não se deve apoiar ou mesmo proteger leis de anistia. Com a decisão tomada pelo Supremo Tribunal brasileiro, o País está indo na direção contrária à tendência latino-americana de julgar seus torturadores e contra o senso da ONU luta contra a impunidade”.
O STF pode sofrer uma grave humilhação internacional ainda este ano — e isso pode ser o primeiro grande constrangimento externo do Governo Dilma. Começou em maio, em San José da Costa Rica, o processo n° 11.552 de Júlia Gomes Lund contra o Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ela é mãe de Guilherme Lund, que desapareceu aos 26 anos, junto com outras 70 pessoas, no confronto das Forças Armadas contra os guerrilheiros do PCdoB nas matas do Araguaia, no sul do Pará. Em 2008, a Corte da OEA recomendou ao Brasil a punição aos responsáveis pela prisão, tortura e morte no caso Lund. O Brasil não reagiu e, no ano seguinte, foi aberto o processo contra o Estado brasileiro.
A decisão mais provável da Corte, que não comporta apelação, aponta para uma declaração constrangedora para o STF e para o Brasil até dezembro próximo, definindo que a lei da anistia não abriga os crimes de detenção, tortura, assassinato e desaparecimento dos guerrilheiros. Se isso serve para o combate no coração da floresta, pode servir também para os combatentes da guerrilha urbana que foram torturados no centro da maior cidade brasileira.
Como no caso de uma certa ‘Estela’, uma das líderes do grupo guerrilheiro VAR-Palmares. Com paradeiro certo e conhecido, a partir de 1° de janeiro: Presidência da República Federativa do Brasil, Palácio do Planalto, 3º andar, Praça dos Três Poderes, Brasília, DF, CEP 70150-900.
Sua ocupante, Dilma Rousseff, pode abraçar esta causa com a força de sua história e sua determinação. Agora, basta a sangria da memória. E uma hemorragia de verdade.
(*) Luiz Cláudio Cunha é jornalista.