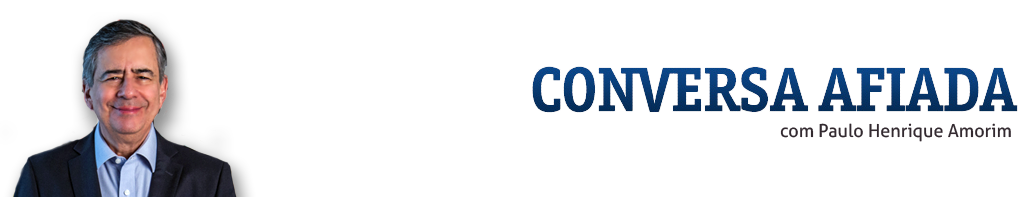Comparato: Ditadura e o regime empresarial-militar brasileiro
O Conversa Afiada reproduz artigo de Fábio Konder Comparato:
COMPREENSÃO HISTÓRICA DO REGIME EMPRESARIAL-MILITAR BRASILEIRO
Fábio Konder Comparato
Meio século após a instauração do mais longo regime de exceção de nossa história política, é importante examinar suas causas e analisá-lo num amplo contexto social, ultrapassando fatos singulares e personagens individuais.
Com esse propósito, parece-me necessário considerar, antes de mais nada, a tradicional estrutura de poder vigente entre nós e a posição que nela ocupou a corporação militar.
I
Posição das Forças Armadas na Estrutura de nosso Poder Político
Em todo o curso da História do Brasil, a organização do poder apresentou uma estrutura dualista, englobando de um lado os agentes estatais, e de outro lado os potentados privados, ou seja, os grandes proprietários e empresários. Enquanto os primeiros se apresentaram oficialmente como titulares do poder político e administrativo, os segundos, graças ao seu poderio econômico, não deixaram de exercer sobre aqueles uma influência determinante. Essa organização do poder político, a bem dizer, é própria da civilização capitalista. “O capitalismo”, como bem advertiu Fernand Braudel, “só triunfa quando se identifica com o Estado, quando é o Estado”.
Como órgão auxiliar dessa estrutura dualista de poder, atuou, até recentemente, a Igreja Católica. A monarquia portuguesa havia obtido do papado, durante a Idade Média, o privilégio do padroado régio, que habilitava o monarca a propor a criação de novas dioceses, escolher os bispos e propor sua sagração ao papa; além do chamado beneplácito, que era o poder de o rei aprovar previamente as normas e determinações da Santa Sé destinadas ao reino. Em razão do padroado, que vigorou entre nós até a República, os eclesiásticos atuaram como autênticos funcionários da Coroa. Mesmo após a separação entre a Igreja e o Estado, estabelecida pela primeira Constituição republicana de 1891, a Igreja Católica exerceu no Brasil uma influência decisiva, em defesa da ordem política estabelecida.
Quanto ao povo propriamente dito, ele nunca, nem de longe, deteve a soberania e, salvo períodos de curta duração – como durante a “Era Vargas”, por exemplo – ficou totalmente alheio ao esquema geral de exercício do poder político, mesmo quando, a partir do período republicano, foi constitucionalmente proclamado como a fonte de onde emanam todos os poderes.
Entre os dois grupos dominantes acima nomeados –os agentes estatais e os potentados privados – estabeleceu-se aquela dialética da ambiguidade a que se referiu o historiador José Murilo de Carvalho, retomando uma expressão cunhada pelo sociólogo Guerreiro Ramos. Cada um desses grupos de poder sempre busca, antes de tudo, realizar o seu próprio interesse e não o bem comum do povo. Mas, salvo conflitos episódicos, mantêm-se associados, em situação de mútua dependência. Assim, enquanto o conjunto dos agentes estatais – governantes, legisladores, juízes, membros do Ministério Público, altos funcionários – no exercício de suas funções oficiais favorece a realização dos interesses econômicos dos potentados privados, estes últimos, sob o disfarce da submissão ao poder oficial, não cessam de exercer pressão sobre os primeiros em todos os níveis – legislação, administração, prestação da justiça –, quando não os corrompem, pura e simplesmente. Aliás, a generalizada prática da corrupção dos agentes públicos, herdada de
Portugal, marcou toda a nossa história, havendo chamado a atenção de notáveis viajantes estrangeiros no século XIX.
Até o final do Império, as Forças Armadas atuaram como organização auxiliar desse esquema dúplice de poder. A partir da Guerra do Paraguai (1865-1870), entretanto, a corporação militar manifestou crescente insatisfação com o seu estado de dependência na organização estatal, como passamos a ver.
a) Período colonial
A colonização portuguesa, tanto na América, quanto na Ásia e na África, teve, desde o início, um caráter nitidamente mercantil.
Com efeito, a partir do reinado de D. João I, inaugurador da dinastia de Avis na segunda metade do século XIV, o pequeno reino ibérico conheceu a primeira grande revolução dos tempos modernos, com o rompimento da milenar estrutura social da civilização indo-europeia. Nesta, como sabido, a sociedade era dividida em três estamentos (États, Stände): o dos clérigos, o dos aristocratas-militares e o dos simples servos lavradores. Sucedeu que no dealbar da Baixa Idade Média, nas localidades chamadas “burgos de fora”, ou seja, não sujeitas ao poder feudal, surgiram e prosperaram três grupos sociais estranhos àquela tripartição estamental, e que passaram, em razão de sua origem territorial, a ser denominados burgueses: os comerciantes, os juristas e os militares de profissão.
O Mestre d’Avis, assumindo o trono logo após a grande crise de 1383 – 1385 entre Portugal e Castela, afastou da Corte a nobreza favorável à aliança entre ambas as Coroas ibéricas, e chamou a si aquelas três categorias de burgueses, atribuindo-lhes a missão de servi-lo diretamente na luta pela manutenção da independência do reino. Criou, destarte, aquele estamento burocrático, cuja atuação na história política de nosso país foi analisado em profundidade por Raymundo Faoro em obra já clássica.
A grande aventura colonial, desenvolvida a partir da descoberta da América e a abertura do caminho marítimo para as Índias, foi desde o iníicio montada com o auxílio dos militares e comerciantes ligados à Coroa. O próprio rei tornou-se o primeiro comerciante do reino. Em suma, como disse Alexandre Herculano, fundou-se em Portugal um regime de capitalismo político.
No sistema das capitanias hereditárias, por primeiro instalado no Brasil, a autoridade máxima local, o capitão-donatário, era dotado de todos os atributos régios, notadamente o poder militar, e desenvolvia pessoalmente a atividade de exploração mercantil da terra. Sobrevindo o regime de governo-geral, inaugurado por Tomé de Souza em 1549, garantiu-se, em benefício de alguns senhores de engenho designados pela Coroa, o oligopólio da produção de açúcar. “O ser senhor de engenho”, asseverou Antonil em sua obra de 1711,7 é título a que muitos aspiram, porque traz consigo o ser servido, obedecido e respeitado de muitos”.
Criou-se em consequência, em todo o período colonial, uma estrutura dúplice de poderes, reunindo de um lado os grandes fazendeiros e senhores de engenho, e de outro lado o estamento burocrático nomeado pela Coroa, ou seja, os altos funcionários régios. Entre esses dois grupos de potentados, estabeleceram-se ao longo dos séculos estreitas relações de parentesco, amizade e compadrio.
No conjunto dos funcionários oriundos da metrópole, os militares sempre predominaram, pois desde o início da aventura colonial houve constante preocupação com a defesa do território. A corporação militar organizava-se em três grupos:9 1) as tropas de linha, compostas essencialmente de regimentos portugueses, e que operavam em todo o território colonial; 2) as milícias, constituídas também por tropas regulares de recrutamento compulsório, mas não remuneradas, distribuídas em freguesias ou circunscrições eclesiásticas; 3) os corpos de ordenanças, que abrangiam toda a população masculina entre 18 e 60 anos, não recrutada nos dois primeiros corpos militares.
Essa avassaladora organização militar nunca se distinguiu pela disciplina. Enquanto os chefes mantinham-se estreitamente unidos à classe dos ricos senhores, sendo que muitos oficiais de alto grau adquiriam propriedades rurais ou tornavam-se comerciantes, a soldadesca cometia freqüentes abusos contra a população pobre. Luís dos Santos Vilhena, em suas crônicas da Bahia do final do século XVIII,10 relata a freqüência com que, nas épocas de escassez de alimentos, os militares invadiam currais e açougues, a fim de se apossar de toda a carne destinada à venda.
b) Período imperial
Desde a criação do Estado brasileiro independente em 1822, até o final do reinado de D. Pedro II, a corporação militar representou o braço armado da Coroa imperial, em defesa da organização política centralizada e da unidade territorial do país.
Nessa posição, as Forças Armadas atuaram, já em 1824, na pacificação do conflito entre o presidente da Província de Pernambuco, nomeado pela Corte, e seu adversário local. Nos anos seguintes, a corporação militar teve que enfrentar, não poucas vezes, segmentos rebeldes dos proprietários agrícolas e comerciantes urbanos, ou seja, o outro ramo da dominação oligárquica. Assim sucedeu durante todo o período regencial – Guerra dos Cabanos (Pará, 1835-1840), Guerra dos Farrapos (Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 1835-1845), Sabinada (Salvador, 1837-1838), a Balaiada (Maranhão e Piauí, 1838-1841) – estendendo-se até os primeiros anos do reinado de D. Pedro II: revoltas liberais de 1842 e a Revolta Praieira de 1848.
A corporação militar foi, porém, poupada no combate aos vários levantes de escravos, como a Revolta dos Carrancas em Minas Gerais em 1831, a Revolta dos Malês na Bahia em 1835 e os combates contra quilombolas. Nesses confrontos, o governo imperial preferiu servir-se das forças policiais e dos chamados capitães-do-mato, estipendiados pelos senhores rurais. O governo chegou mesmo a criar em 1831, como força auxiliar da polícia, a Guarda Nacional. Compunham-na todos os cidadãos ativos de 21 a 60 anos, entendendo-se como tais as pessoas que dispunham de uma renda anual de 100 mil-réis e constituíam, nessa condição, os eleitores de primeiro grau.11 Eles formavam a ínfima minoria de brasileiros, considerada a “elite” da nação.
Mais importante que isso, todavia, foi o desempenho de primeira linha das Forças Armadas imperiais em vários conflitos externos, como as sucessivas guerras platinas e, sobretudo, a Guerra do Paraguai (1865-1870).
Esta última representou o fator desencadeante de um inconformismo geral no seio da corporação militar. Havendo combatido ao lado das tropas da Argentina e do Uruguai, repúblicas onde os militares podiam ocupar altos postos políticos, inclusive a chefia do Estado, os oficiais brasileiros não mais aceitavam permanecer como cidadãos de segunda categoria, sem desfrutar de todas as liberdades políticas asseguradas aos civis. Por outro lado, nossos militares tomaram consciência de sua condição humilhante de subordinados ao poder escravocrata, devendo assinalar-se que um contingente apreciável das tropas brasileiras era composto de escravos.
A partir de 1883 e praticamente até a Proclamação da República, ocorreu uma série de incidentes, que os historiadores classificaram como “a questão militar”. Influenciados pela pregação positivista, desenvolvida sobretudo por Benjamin Constant na Escola Militar da Praia Vermelha, os integrantes das Forças Armadas começaram a reivindicar direitos fundamentais de cidadania que lhes eram recusados, como o de reunião e de livre manifestação política.
Por outro lado, com o crescimento exponencial da fuga de escravos e a multiplicação de quilombos em todo o sudeste do país, o governo imperial, pressionado pelos grandes proprietários rurais e verificando a fraqueza dos contingentes policiais, tentou recorrer às forças do Exército para a recaptura dos fugitivos, o que causou generalizado mal-estar entre os militares. A tensão agravou-se até que em outubro de 1887, poucos meses antes da Abolição, o Clube Militar, sob a presidência de Deodoro da Fonseca, dirigiu um apelo à Princesa Regente, no sentido de que os soldados ficassem dispensados da “captura de pobres negros que fogem à escravidão”.
Em suma, ao final do Império as Forças Armadas entraram em aberto conflito, não só com os agentes estatais detentores do poder político oficial, mas também com o conjunto dos grandes proprietários agrícolas; ou seja, os dois grupos titulares efetivos da soberania.
É nesse contexto que sobrevem a Proclamação da República. Ela deu, de início, a chefia do Estado, sucessivamente e durante cinco anos, a dois altos oficiais militares, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Mas a falta de apoio dos grandes fazendeiros do sudeste às Forças Armadas levou à transferência da presidência da República, em 15 de novembro de 1894, a Prudente de Morais, nosso primeiro presidente civil, legítimo representante da oligarquia cafeeira.
c) A “República Velha” (1894-1930)
O restabelecimento da supremacia do poder civil não significou um apaziguamento da insubordinação dos militares; longe disso.
Já em 1904, no contexto da revolta popular contra a vacina obrigatória, instituída por Osvaldo Cruz para debelar a febre amarela, deu-se no Rio de Janeiro a Revolta da Escola Militar da Praia Vermelha, na qual morreram, em confronto com as forças policiais, além de um aluno, o tenente-coronel e senador Lauro Sodré e o general Travassos.
Na década de 20, com o chamado movimento tenentista, irrompeu a revolta da jovem oficialidade do Exército contra a falsidade de uma representação política subordinada ao poder latifundiário. Em 1922, um grupo de tenentes revoltou-se no forte de Copacabana. Em 1924, em São Paulo, a capital ficou três semanas em mãos de jovens militares, chefiados pelo general reformado Isidoro Dias Lopes. Ainda em 1924, graças à junção de um contingente militar, que se retirava vencido de São Paulo, com outro grupo de soldados rebeldes, chefiado pelo capitão Luis Carlos Prestes, futuro líder do Partido Comunista, teve início a façanha da Coluna Prestes, que percorreu cerca de 25.000 quilômetros no território nacional, protestando contra o regime político fraudulento da “República Velha”.
d) A “Era Vargas”
Sobrevindo a chamada Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas à presidência da República, este percebeu desde logo a necessidade de contar com o apoio do novo operariado industrial urbano, bem como da jovem oficialidade das Forças Armadas; tudo no contexto da primeira experiência de intensa propaganda política pessoal levada a efeito no Brasil. Assim, além de criar a legislação trabalhista e desenvolver a organização sindical sob a tutela do governo, Getúlio não hesitou, durante o período de governo provisório, em nomear tenentes do Exército como interventores em todos os Estados da federação. Além disso, cercou-se de vários generais na cúpula do governo, o que lhe permitiu, sem qualquer reação, repudiar em 1937 o Estado Constitucional (em 1934 fora promulgada nova Constituição), instituindo o Estado Novo, de inspiração fascista. Graças ao apoio militar, foram sucessivamente esmagadas a revolta comunista de 1935 e a integralista de 1938, as quais contaram com a participação de oficiais do Exército.
Com o início da Segunda Guerra Mundial, Getúlio decidiu, após dois anos de hesitação, apoiar os Estados Unidos no conflito bélico. Em julho de 1941, assinou um pacto secreto com o governo ianque para a construção de bases aéreas e navais no extremo oriental do Nordeste brasileiro, como trampolim para o transporte de tropas e armamentos norte-americanos em território africano, onde já operava a Wehrmacht. Em compensação, o governo americano liberou um empréstimo de 20 bilhões de dólares para a fundação da Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, o primeiro complexo de siderurgia criado na América Latina.
Em agosto de1942, após o torpedeamento de 21 navios mercantes brasileiros que navegavam em nosso mar territorial, o governo declarou o estado de beligerância e, logo após, a declaração de guerra contra a Alemanha e a Itália. Um ano depois, em 9 de agosto de 1943, foi criada a Força Expedicionária Brasileira, enviada em 1944 a combater na Itália.
A influência norte-americana fez-se presente também no plano da política interna, envolvendo os militares. Em 1943, o General Manuel Rabelo criou a Sociedade Amigos da América, que contava com o apoio dos Generais Horta Barbosa e Candido Rondon. Em 1944, Oswaldo Aranha, desde há muito amigo dos americanos, desligou-se do Ministério das Relações Exteriores e passou a apoiar a instauração de um regime democrático.
Tal como ocorreu após a Guerra do Paraguai, nossos militares da FEB, ao retornarem da Europa, onde foram sacrificadas 443 vidas, sentiram-se inconformados com sua posição subordinada na estrutura da máquina governamental. Acresça-se a isto o fato de que o governo norte-americano, servindo-se da recente ligação de seus generais com os comandantes das tropas da FEB na Itália, passou a pressionar o ditador a deixar o poder, alegando que a guerra contra as potências do Eixo Roma-Berlim-Tóquio fora desenvolvida em nome dos ideais democráticos.
Na verdade, o que mais incomodava os Estados Unidos era o nacionalismo getulista em matéria de política econômica, fortemente contrário aos interesses das macro-empresas norte-americanas. Em 1938, foi criado o Conselho Nacional do Petróleo, sendo localizada pela primeira vez no ano seguinte, na Bahia, uma reserva do óleo. O cartel internacional do petróleo, com forte apoio norte-americano, desenvolveu desde logo forte pressão sobre o governo brasileiro para impedir a exploração do combustível, o que realmente aconteceu.
Terminada a guerra, Getúlio, que acabara de receber total apoio de Luis Carlos Prestes, foi afinal deposto pelos generais Góis Monteiro e Eurico Gaspar Dutra em 29 de outubro de 1945. Conservou, no entanto, seus direitos políticos e, sobretudo, imenso apoio popular. Nessa condição, aproveitando-se das disposições da lei eleitoral, que permitia candidaturas individuais em mais de um Estado, foi eleito deputado federal por 7 Estados e senador por São Paulo e Rio Grande do Sul. Optou pela cadeira de senador do Estado gaúcho.
Lançando mão de uma astúcia política jamais igualada entre nós, Getúlio criou dois partidos políticos, o PSD e o PTB; o primeiro reunindo os grandes líderes ruralistas e os novos empresários industriais, e o segundo como porta-voz da massa trabalhadora urbana, enquadrada pelos sindicatos, desde sempre getulistas. Ou seja, como disse ferinamente seu grande opositor, Carlos Lacerda, enquanto o PSD criava a miséria, o PTB explorava suas consequências.
A astúcia do grande lider populista não se limitou, porém, a isso. Abertas as eleições para a presidência da República, Getúlio apoiou a candidatura do General Dutra, que o depusera em 1945. Afastou, com isso, toda oposição militar ao processo eleitoral, além de tranqüilizar o grande empresariado, inquieto com a livre atuação dos militantes comunistas.
O governo do (já então) Marechal Dutra representou a primeira grande experiência de liberalismo capitalista no Brasil, especialmente em matéria de política cambial, movimentação internacional de capitais e comércio exterior. Conquistou, com isso, o apoio integral do grande empresariado, nacional e estrangeiro. No campo propriamente político, Dutra deu inteira satisfação aos Estados Unidos, ao apoiar abertamente o processo judicial que conduziu à cassação do registro do Partido Comunista, em 1947.
Ao voltar legitimamente à presidência da República pela via eleitoral em 1951, Getúlio Vargas pôs fim à orientação liberal privatista do seu antecessor, suscitando com isso a oposição do empresariado à sua linha de governo. Logo após a posse, foi criada, junto à Secretaria da Presidência, uma Assessoria Econômica, composta de competentes administradores públicos de orientação nacionalista. Esse órgão exerceu na prática, pela primeira vez em nosso pais, as funções de planejamento governamental, dando especial atenção à política de investimentos na infra-estrutura econômica. Da Assessoria Econômica presidencial saíram, entre outros, os projetos de criação da Petrobrás, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, do Fundo Rodoviário Nacional e da Eletrobrás.
Estava-se, porém, naquele momento, em pleno conflito da chamada Guerra Fria, o confronto não bélico entre os Estados Unidos e seus aliados, de um lado, e a União Soviética e seus satélites, de outro. A corporação militar encontrava-se à época fundamente dividida entre oficiais nacionalistas, favoráveis especificamente ao monopólio estatal de exploração do petróleo, e oficiais treinados e doutrinados pelos norte-americanos, que advogavam a livre iniciativa econômica do setor privado, ainda que estrangeiro.
Estes últimos acabaram afinal por prevalecer e, estimulados pelo principal partido da oposição, a União Democrática Nacional – UDN,12 aderiram abertamente à campanha de críticas a Getúlio, acusando-o de ser o chefe de uma massa de subversivos e corruptos; ou seja, exatamente o mote utilizado dez anos depois para justificar o golpe que deu origem ao regime empresarial-militar.
Em fevereiro de 1954, o chamado “manifesto dos coronéis”, reivindicando uma ampliação dos recursos orçamentários destinados ao Exército e protestando contra o aumento do salário mínimo em 100%, forçou Getúlio Vargas a exonerar João Goulart, Ministro do Trabalho, e o General Ciro Espírito Santo Cardoso, Ministro da Guerra.
Na madrugada do dia 5 de agosto, o líder udenista Carlos Lacerda e seu guarda-costas, o major da Aeronáutica Rubens Florentino Vaz, sofreram no Rio de Janeiro um atentado a bala, que feriu Lacerda e matou o major Vaz. Imediatamente, os oficiais mais graduados daquela Arma reuniram-se em comissão de inquérito no aeroporto do Galeão (a chamada “República do Galeão”), e poucos dias depois obtiveram a confissão de membros da guarda pessoal do Presidente Getúlio Vargas de que o atentado fora por eles planejado e executado. A partir de então, os oficiais superiores do Exército e da Marinha manifestaram-se solidários com a Aeronáutica e passaram a exigir a renúncia de Getúlio. Buscou-se, sem êxito, até o dia 23 uma fórmula de conciliação. No dia seguinte, pela manhã, recebendo do irmão, Benjamin Vargas, a informação de que o oficialato das três Armas exigia sua renúncia imediata da presidência da República, Getúlio suicidou-se, provocando em todo o país intensa revolta popular.
O suicídio de Getúlio foi, na verdade, um golpe de mestre, que adiou por dez anos a mudança do regime político.
e) O período pós-Vargas
Embora vencidas pelo inesperado golpe do suicídio, as Focas Armadas permaneceram em estado de constante agitação.
Em 11 de novembro de 1955, o então Ministro da Guerra, General Henrique Teixeira Lott, decidiu prevenir um golpe de estado em preparação para impedir a posse do Presidente da República regularmente eleito, Juscelino Kubitschek de Oliveira. O presidente em exercício, Carlos Luz, foi deposto e o Vice-Presidente Café Filho, que sucedera Getúlio e se afastara da presidência por razões de saúde, impedido de voltar ao poder.
Ao tomar posse, Juscelino tomou a resolução de organizar o indispensável apoio militar em torno do seu governo. Como resumiu Maria Victoria de Mesquita Benevides,13 a organização desse apoio fez-se de três maneiras: 1) a atribuição ao ministro da guerra, General Lott, de um papel preponderante na manutenção da ordem interna e da disciplina militar; 2) o atendimento das reivindicações dos militares, quanto a vencimentos, equipamentos e promoções, aliado ao apoio das Forças Armadas à política desenvolvimentista do governo; 3) a crescente participação dos militares no exercício das funções governamentais.
Apesar desse empenho em articular seu governo com os interesses das Forças Armadas, o governo Kubitschek não logrou suprimir a hostilidade da corporação militar. Em 1956 e 1959, por exemplo, oficiais da Aeronáutica declararam-se em estado de insurreição contra o presidente, respectivamente em Jacareacanga (PA) e Aragarças (GO).
Graças, porém, às suas iniciativas ousadas, como a construção de Brasília e a criação de grandes facilidades para a instalação de uma indústria automobilística no território nacional, Juscelino conquistou integral apoio do empresariado.
Em janeiro de 1959, um fato relevante mudou o cenário político de toda a América Latina: um grupo de revolucionários cubanos, sob a liderança de Fidel Castro, tomou o poder na ilha, instaurando um regime comunista.
As eleições para a sucessão de Juscelino Kubitschek voltaram a trazer grande insatisfação no seio das Forças Armadas. Candidato da coligação partidária governista PSD-PTB, o já então Marechal Lott foi derrotado por Janio Quadros, candidato da oposição.
O governo de Janio foi marcado pelo conflito aberto com os Estados Unidos no campo da política externa. A abertura das portas do comércio exterior aos países socialistas e, sobretudo, a condecoração de Che Guevara com a Grã-Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, suscitaram a aberta hostilidade dos oficiais militares anticomunistas ao seu governo.
Após a renúncia de Janio em 25 de agosto de 1961, os ministros militares, Marechal Odílio Denis, Almirante Sílvio Heck e Brigadeiro Gabriel Grün Moss, declararam-se contrários à posse do Vice-Presidente João Goulart, que se encontrava ausente do país em viagem oficial. Imediatamente, o Governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, levantou-se contra os ministros militares, obtendo o apoio do comando do III Exército, sediado em Porto Alegre.
O confronto acabou sendo resolvido por meio de uma transação conciliatória: os ministros militares aceitaram a investidura de João Goulart como Presidente da República, contanto que se adotasse o sistema parlamentar de governo; o que foi feito pelo Congresso Nacional ao votar a emenda constitucional nº 4, de 2 de setembro de 1961. Dita emenda previa, em seu art. 25, que a lei “poderá dispor sobre a realização de plebiscito que decida da manutenção do sistema parlamentar ou volta ao sistema presidencial, devendo, em tal hipótese, fazer-se a consulta plebiscitária nove meses antes do termo do atual período presidencial”. Realizado o plebiscito, uma ampla maioria optou pelo retorno ao sistema presidencial de governo. O Congresso Nacional, dando cumprimento à vontade popular, aprovou a emenda constitucional nº 6, de 23 de janeiro de 1963.
Em 12 setembro de 1963, centenas de sargentos, fuzileiros e soldados da Aeronáutica e da Marinha de Guerra sublevaram-se em Brasília, ocupando na madrugada importantes centros administrativos. O motivo do levante foi a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, que confirmava a inelegibilidade das pessoas enumeradas no art. 132, parágrafo único da Constituição de 1946 (praças de pré, suboficiais, subtenentes, sargentos e alunos das escolas militares de ensino superior).
Chegamos, assim, seis meses depois, ao golpe de Estado que pôs fim ao regime constitucional, e instaurou a dominação militar-empresarial durante mais de vinte anos.
II
O Golpe Militar de 1964 e a Instauração do Regime Autoritário
Origens do golpe
Na gênese do golpe de Estado de 31 de março de 1964, encontramos a profunda cisão lavrada entre os dois grupos que sempre compuseram a oligarquia brasileira: os agentes políticos e a classe dos grandes proprietários e empresários.
Até então, os conflitos entre ambos eram sempre resolvidos por meio de arranjos conciliatórios, segundo a velha tradição brasileira. Nos últimos anos do regime constitucional de 1946, porém, essa possibilidade de conciliação tornou-se cada vez mais reduzida. A principal razão para tanto foi o agravamento do confronto político entre esquerda e direita no mundo todo, no contexto da Guerra Fria e em especial, na América Latina, com a Revolução Cubana. Deve-se notar, aliás, que naquela época boa parte das nossas classes médias abandonou sua tradicional colocação à direita do espectro político, e passou a apoiar as chamadas “reformas de base” do governo João Goulart: a reforma agrária, a bancária, a tributária e a política de repúdio ao capital estrangeiro.
Era natural, nessas circunstâncias, que os grandes proprietários e empresários, nacionais e estrangeiros, temessem pelo seu futuro em nosso país e se voltassem, agora decididamente, para o lado das Forças Armadas, a fim de que estas depusessem os governantes em exercício, substituindo-os por outros, associados aos potentados privados, segundo a velha herança histórica. Uma vez perpetrado o golpe de estado, manifestaram-se desde logo a favor dele a Igreja Católica14 e várias entidades de prestígio da sociedade civil, como a Ordem dos Advogados do Brasil.
O que o empresariado não levou em conta, todavia, era o fato de que a corporação militar amargurava, desde a proclamação da República, uma longa série de tentativas mal sucedidas para livrar-se da subordinação ao poder civil. Não seria justamente naquele momento, quando chamadas a salvar o grande empresariado do perigo esquerdista, que as Forças Armadas iriam depor os governantes em exercício e voltar em seguida à caserna.
Na preparação do golpe, o governo norte-americano teve uma atuação decisiva. Já em 1949, um grupo de altos oficiais do Exército Brasileiro, entre os quais o general Cordeiro de Farias, influenciados pelos Estados Unidos, criou, nos moldes do National War College norte-americano, o Instituto de Altos Estudos de Política, Defesa e Estratégia, a seguir denominado Escola Superior de Guerra. Com o aprofundamento da chamada Guerra Fria e, sobretudo, logo após a tomada do poder em Cuba por Fidel Castro, esse instituto de ensino passou a formar a oficialidade brasileira para impedir a assunção do poder pelos comunistas; assim compreendidos todos os agentes políticos que, embora não filiados ao PCB, manifestassem, de alguma forma, oposição aos Estados Unidos. Pode-se afirmar que todos os oficiais militares que participaram do golpe de 1964 foram alunos da Escola Superior de Guerra. Os cursos lá administrados, aliás, não eram reservados apenas aos militares, mas abertos também a políticos e empresários de destaque.
De 1961 a 1966, atuou como embaixador norte-americano no Brasil Lincoln Gordon, que já em 1960 havia colaborado na implantação da Aliança para o Progresso, programa de ajuda oferecido pelos Estados Unidos aos países da América Latina, a fim de evitar que eles seguissem o caminho revolucionário de Cuba. Na preparação do golpe, Gordon coordenou a criação no Brasil de entidades de propaganda política, como o IBAD – Instituto Brasileiro de Ação Democrática e o IPES – Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais. Sabe-se, aliás, por uma gravação depois divulgada, que já em 30 de julho de 1962 Lincoln Gordon discutiu com o presidente Kennedy, na Casa Branca, o gasto de US$ 8 milhões para “expulsar do poder, se necessário”, o presidente João Goulart.
Como arma decisiva, o governo norte-americano – ao que parece a pedido dos militares brasileiros golpistas – desencadeou em março de 1964 a Operação Brother Sam, consistente em uma força-tarefa naval composta de um porta-aviões, quatro destróieres e navios-tanques para exercícios ostensivos na costa sul do Brasil, além de cento e dez toneladas de munição.
A aliança das Forças Armadas com os detentores do poder econômico privado
Ao assumirem o comando do Estado, os chefes militares não hesitaram, ao longo dos anos, em mutilar o Congresso Nacional e o Judiciário: 281 parlamentares foram cassados e três ministros do Supremo Tribunal Federal aposentados compulsoriamente. Os governantes militares fizeram questão de submeter à sua dominação absoluta, durante as duas décadas do regime, o conjunto dos integrantes do poder civil, como uma espécie de desforra pela longa série de frustrações políticas por eles, homens de farda, sofridas desde o final do século XIX. É preciso reconhecer que a grande maioria dos agentes públicos, poupados pela repressão instaurada após o golpe, colaborou desonrosamente no funcionamento deste.
O novo regime político fundou-se na aliança das Forças Armadas com os latifundiários e os grandes empresários, nacionais e estrangeiros. Esse consórcio político engendrou duas experiências pioneiras na América Latina: o terrorismo de Estado e o neoliberalismo capitalista. A partir do exemplo brasileiro, vários outros países latino-americanos adotaram nos anos seguintes, com explícito apoio dos Estados Unidos, regimes políticos semelhantes ao nosso.
Um dos setores em que a colaboração do empresariado com a corporação militar mais se destacou foi o das comunicações de massa. As Forças Armadas e o grande empresariado necessitavam dispor de uma organização capaz de desenvolver, em todo o território nacional, a propaganda ideológica do regime autoritário, com a constante denúncia do perigo comunista e a difusão sistemática, embora sempre encoberta, dos méritos do sistema capitalista.
Os chefes militares decidiram, para tanto, fixar sua escolha no Sistema Globo de Comunicações. Em 1969, ele possuia três emissoras (Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte). Quatro anos depois, em 1973, ele já contava com nada menos do que onze.
A dominação empresarial do sistema de comunicações de massa continuou a subsistir, uma vez encerrado o regime autoritário, e persiste até hoje. A Constituição Federal de 1988 dispõe em seu art. 220, § 5º que “os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio”. Mas até o momento em que escrevo estas linhas – mais de um quarto de século após promulgada a Constituição em vigor – esse dispositivo constitucional, como vários outros do mesmo capítulo, permanece ineficaz por falta de regulamentação legal.15
O casamento entre a corporação militar e o empresariado continuou inabalado, enquanto subsistiram grupos de oposição decididos a desenvolver, com ou sem apoio cubano, a luta armada contra o regime autoritário.
No Brasil, os grandes empresários não hesitaram em financiar a instalação de aparelhos de terror estatal. No segundo semestre de 1969, por exemplo, o II Exército, com sede em São Paulo, lançou a Operação Bandeirante – embrião do futuro DOI-CODI (Destacamento de Operações Internas e Centro de Operações de Defesa Interna) – destinada a dizimar os principais opositores ao regime.16 Reunido com banqueiros paulistas no segundo semestre daquele ano, o então ministro da economia Delfim Neto pediu e obteve sua contribuição financeira, alegando que as Forças Armadas não tinham equipamento nem verbas para enfrentar a “subversão”. Ao mesmo tempo, a Federação das Indústrias de São Paulo – FIESP convidou as empresas que a integravam a colaborar no empreendimento. Assim, enquanto a Ford e a Volkswagen forneciam automóveis, a Ultragás emprestava caminhões e a Supergel abastecia a carceragem militar com refeições congeladas.
A quebra de confiança do empresariado no poder militar
A lua de mel entre os grandes empresários e as Forças Armadas não durou muito tempo, porém. Em 12 de dezembro de 1968, exatamente na véspera do lançamento do Ato Institucional nº 5, que suspendeu o habeas-corpus nos casos de crimes políticos e contra a segurança nacional, o chefe da Polícia Federal impediu a publicação, no jornal superconservador O Estado de São Paulo, do editorial em que o diretor Júlio de Mesquita Filho condenava o “artificialismo institucional, que pela pressão das armas foi o País obrigado a aceitar”.
Alguns anos mais tarde, quando se verificou que todos os grupos engajados na luta armada contra o regime haviam sido exterminados, os empresários começaram a manifestar sua irritação com a permanência dos militares no comando do Estado Brasileiro. Tanto mais que os homens de farda deixaram-se seduzir pelas vantagens econômicas particulares desfrutadas no comando do Estado, tais como o exercício de cargos de administração altamente remunerados em empresas estatais, várias delas criadas a partir do golpe de 1964.
Em 1974, um dos grandes sacerdotes do credo liberal, Eugênio Gudin, declarou publicamente que “o capitalismo brasileiro é mais controlado pelo Estado do que o de qualquer outro país, com exceção dos comunistas”. A seguir, em fevereiro de 1975, o jornal O Estado de São Paulo publicou uma série de nada menos do que onze reportagens sob o título Os caminhos da estatização, enquanto a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo divulgava um documento, intitulado O Processo de Estatização da Economia Brasileira: O Problema do Acesso aos Recursos para Investimentos.
A classe empresarial entendia, assim, haver chegado o momento de voltar a instalar no país o tradicional regime da falsa democracia representativa, em cuja fachada aparece o poder oficial atribuído a agentes políticos eleitos, enquanto por trás dela tem livre curso a dominação econômica, exercida pelos potentados privados.
A pressão empresarial contra as Forças Armadas no comando do Estado coincidiu com a eleição à presidência dos Estados Unidos de Jimmy Carter, crítico implacável das violações de direitos humanos cometidas pelo regime militar brasileiro. Em entrevista a um periódico norte-americano, ele chegou a afirmar:
“Quando Kissinger [Secretário de Estado no governo Richard Nixon] diz, como fez há pouco, que o Brasil tem um tipo de governo compatível com o nosso, bem, aí está o tipo de coisa que nós queremos mudar. O Brasil não tem um governo democrático. É uma ditadura militar. Em muitos aspectos é altamente repressiva para os presos políticos.”
Por sua vez, no seio do episcopado brasileiro – embora vinculado, como de costume, aos detentores do poder supremo – destacaram-se as figuras exponenciais de D. Helder Câmara e de D. Paulo Evaristo Arns, para denunciar sem eufemismos, tanto aqui como no exterior, as atrocidades praticadas contra presos políticos.
O regime militar entrava, assim, em sua fase de declínio inelutável, havendo perdido o apoio dos grupos que, tradicionalmente, compõem a estrutura do poder entre nós.
A fase final do regime
Tudo parecia encaminhar-se para a “distensão lenta, gradual e segura”, como pregava o General Golbery do Couto e Silva, não fora o fato de restar irresolvida a questão das atrocidades cometidas pelos agentes militares e policiais, no quadro do terrorismo de Estado.
Conforme dados oficiais da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, criada pela Lei nº 9.140, de 1995, foram comprovados, até fevereiro de 2014, 362 (trezentos e sessenta e dois) casos de opositores políticos assassinados ou desaparecidos durante o regime militar.
Já a Secretaria Especial de Direitos Humanos do Ministério da Justiça, no relatório intitulado Direito à Memória e à Verdade, publicado em 2007, afirmou que tivemos não menos de 475 (quatrocentos e setenta e cinco) mortos e desaparecidos políticos durante aquele período. Calcula-se, ademais, que 50.000 pessoas foram presas por razões políticas, sendo a maior parte delas torturadas, algumas até a morte. O governo militar chegou mesmo a aparelhar, em Petrópolis, uma casa onde pelo menos 19 pessoas foram executadas, sendo seus corpos incinerados a fim de não deixar vestígios.
Em momento algum de nossa vida de país independente, os governantes, quer no Império, quer na República, chegaram a cometer tão repugnantes atrocidades.
A pressão do empresariado para que os chefes militares deixassem o poder foi reforçada com a redução significativa da taxa de crescimento econômico do país, a partir do final do governo Geisel. Mas a corporação fardada hesitava em deixar o comando do Estado, procurando a todo custo uma garantia de que, quando isso ocorresse, os agentes policiais e militares responsáveis pelos atos de criminalidade violenta contra opositores ao regime não seriam punidos. Essa solução contava com o apoio decidido do grande empresariado, quando mais não fosse porque alguns de seus líderes, como assinalado acima, foram co-autores dos crimes de terrorismo de Estado, havendo financiado a operação do sistema repressivo.
Por sugestão dos políticos colaboradores do regime, os chefes militares decidiram afinal embarcar no movimento já iniciado de anistia aos presos e exilados políticos, de modo a estendê-la aos autores de crimes de terrorismo de Estado.
Em junho de 1979, o general-presidente Figueiredo apresentou ao Congresso Nacional um projeto, convertido em 28 de agosto na Lei nº 6.683. Ela concedeu anistia “a todos quantos [...] cometeram crimes políticos ou conexos com estes”; assim considerados “os crimes de qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política”. Lançando mão de cavilosa astúcia, os redatores da lei, ao invés de designarem precisamente os demais crimes abrangidos pela anistia, além dos delitos políticos propriamente ditos, preferiram utilizar a expressão técnica “crimes conexos”. Ora, ela é totalmente inepta no caso; pois são considerados como tais tão-só os delitos com comunhão de intuitos ou objetivos; e ninguém em são juízo pode afirmar que os opositores ao regime militar e os agentes estatais que os torturaram e mataram tivessem agido com objetivos comuns.
Irresignado com essa solerte velhacaria, sugeri em 2008 ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil que ajuizasse, em relação a essa lei, uma argüição de descumprimento de preceito fundamental perante o Supremo Tribunal Federal. A ação foi proposta, pedindo-se ao tribunal que interpretasse o texto legal de acordo com a Constituição que entrou em vigor em 1988, em cujo art. 5º, inciso LXIII dispõe-se que o crime de tortura é insuscetível de graça ou anistia; sendo incontroverso que toda lei contrária ao texto ou ao espírito de uma Constituição nova considera-se tacitamente revogada por esta. Pediu-se, ademais, que a lei de anistia fosse interpretada à luz dos princípios e normas do sistema internacional de direitos humanos.
Em abril de 2010, o Supremo Tribunal Federal julgou por maioria improcedente a ação proposta pela OAB. Desse acórdão foi interposto recurso de embargos declaratórios, pois o tribunal deixou de considerar o fato de que vários dos crimes ditos conexos, cometidos por agentes do regime militar – como, por exemplo, o seqüestro ou a ocultação de cadáver – são qualificados como permanentes ou continuados; o que significa que ainda não se consideram consumados e, portanto, não foram abrangidos pela lei de anistia, dado que esta declarou não aplicar-se aos crimes cuja consumação é posterior a 15 de agosto de 1979.
Seis meses depois desse julgamento, mais exatamente em 24 de novembro de 2010, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, por unanimidade, condenou o Estado Brasileiro, ao julgar o Caso Gomes Lund e outros v. Brasil (“Guerrilha do Araguaia”). Nessa decisão, declarou a Corte:
“As disposições da Lei de Anistia brasileira que impedem a investigação e sanção de graves violações de direitos humanos são incompatíveis com a Convenção Americana [sobre Direitos Humanos], carecem de efeitos jurídicos e não podem seguir representando um obstáculo para a investigação dos fatos do presente caso, nem para a identificação e punição dos responsáveis, e tampouco podem ter igual ou semelhante impacto a respeito de outros casos de graves violações de direitos humanos consagrados na Convenção Americana ocorridos no Brasil.”
Dois foram os fundamentos para tal decisão.
Em primeiro lugar, o fato de que as gravíssimas violações de direitos humanos, praticadas durante o terrorismo de Estado do nosso regime empresarial-militar, constituíram crimes contra a humanidade; ou seja, crimes nos quais é negada às vítimas a condição de ser humano.
Em duas Resoluções formuladas em 1946, a Assembléia Geral das Nações Unidas considerou que a conceituação tipológica de tais delitos representa um princípio de direito internacional.
Essa mesma qualificação foi dada pela Corte Internacional de Justiça às disposições da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, cujos artigos III e V estatuem que “todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal”, e que “ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante.”
Ora, os princípios, como assinalado pela doutrina contemporânea, situam-se no mais elevado grau do sistema normativo. Eles podem, por isso mesmo, deixar de ser expressos em textos de direito positivo, como as Constituições, as leis ou os tratados internacionais.
O segundo fundamento da decisão condenatória do Estado Brasileiro no processo Gomes Lund e outros v. Brasil (“Guerrilha do Araguaia”), foi o fato de que a Lei nº 6.683, de 1979, representou, na verdade, uma auto-anistia, inadmissível no sistema internacional de direitos humanos. Como salientou a referida Sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a responsabilidade pelo cometimento de graves violações de direitos humanos não pode ser reduzida ou suprimida por nenhum Estado, menos ainda mediante o procedimento de uma auto-anistia decretada pelos governantes responsáveis, pois trata-se de matéria que transcende a soberania estatal.
Pois bem, no julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da argüição de descumprimento de preceito fundamental nº 153, proposta pelo Conselho Federal da OAB, o ministro relator e outro que o acompanhou afirmaram que a Lei nº 6.683 não poderia ser concebida como auto-anistia, mas sim como uma anistia bilateral entre governantes e governados. Ou seja, segundo essa original interpretação, torturadores e torturados, reunidos em uma espécie de contrato particular de intercâmbio de prestações, teriam resolvido anistiar-se reciprocamente...
Frise-se, desde logo, a repulsiva imoralidade de um pacto dessa natureza, se é que ele realmente existiu: o respeito mais elementar à dignidade humana impede que a impunidade dos autores de crimes hediondos ou contra a humanidade seja objeto de negociação pelos próprios interessados.
Na verdade, o propalado "acordo de anistia” dos crimes contra a humanidade, praticados pelos agentes da repressão, não passou de uma encoberta conciliação oligárquica, na linha de nossa mais longeva tradição. A validade de qualquer pacto ou acordo supõe a existência de partes legitimadas a conclui-lo. Se havia à época, de um lado, chefes militares detentores do poder supremo, quem estaria do outro lado? Porventura, as vítimas ainda vivas e os familiares de mortos pela repressão militar foram chamados a negociar esse acordo? O povo brasileiro, declarado solenemente como titular da soberania, foi convocado a referendá-lo?
O mais escandaloso de toda essa tese do acordo político é que, após a promulgação da lei de anistia, certos agentes militares continuaram a desenvolver impunemente sua atividade terrorista. O Ministério Público Militar apurou que, entre 1979 e 1981, houve 40 atentados a bomba, praticados por um grupo de oficiais militares reunidos em uma organização terrorista. Foi preciso, no entanto, aguardar até fevereiro de 2014, ou seja, trinta e três anos depois do último atentado, para que fosse apresentada denúncia criminal contra os integrantes dessa quadrilha por homicídio doloso, associação criminosa armada e transporte de explosivos.
É deplorável constatar que o nosso país é o único na América Latina a continuar sustentando a validade de uma auto-anistia decretada pelos militares que deixaram o poder. Na Argentina, no Chile, no Uruguai, no Peru, na Colômbia e recentemente na Guatemala, o Poder Judiciário decidiu pela flagrante inconstitucionalidade desse remendo institucional.
O caso do regime pós-militar argentino é paradigmático a esse respeito e nos cobre de vergonha. A Suprema Corte de Justiça do país julgou inconstitucional, em 2005, a anistia dos crimes cometidos pelos agentes estatais contra os opositores políticos aos governos militares, iniciando-se desde então os consequentes processos penais. Pois bem, até fevereiro de 2014, nada menos do que 370 (trezentos e setenta) criminosos dos dois regimes militares argentinos (1966-1973 e 1973-1983) foram condenados à pena de prisão; inclusive dois ex-presidentes da República, que amargaram a prisão perpétua, sendo que um deles faleceu no cárcere. A persecução penal estendeu-se até mesmo a ex-magistrados, considerados co-autores de tais crimes.
No Brasil, bem ao contrário, até hoje nem um só autor de crime praticado no quadro do terrorismo de Estado do regime empresarial-militar foi condenado pela Justiça. Passados mais de três anos da prolação da sentença condenatória da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Estado Brasileiro ainda não cumpriu nenhum dos seus doze pontos conclusivos, em flagrante violação da Constituição Federal e do sistema internacional de direitos humanos. De minha parte, há pelo menos três anos tenho envidado esforços no sentido de que essa grave omissão de nossos Poderes Públicos seja levada a juízo no Brasil e denunciada perante as instâncias internacionais, a fim de que fique bem marcada a responsabilidade do Estado Brasileiro.
Conclusão
A votação da lei de anistia em 1979 representou, na verdade, a conclusão de um pacto oculto entre as Forças Armadas e ambos os grupos que sempre exerceram conjuntamente a soberania entre nós – os agentes políticos e os potentados econômicos privados –, com o objetivo de devolver aos dois últimos o comando supremo do Estado, que os militares haviam arrebatado em 1964.
Nesse episódio, à semelhança de tantos outros em nossa História, o povo foi posto de lado, como se nada tivesse a ver com isso. A Constituição promulgada em 5 de outubro de 1988, seguindo as que a antecederam, proclama solenemente que “todo poder emana do povo” (art. 1º, parágrafo único). Chega mesmo a declarar que o povo exerce seu poder, não apenas por meio de representantes eleitos, mas diretamente; isto é, mediante plebiscitos e referendos (art. 14).
Tais declarações constitucionais – é lamentável dizê-lo – são meras figuras de retórica.
Sem dúvida, os cidadãos brasileiros votam regularmente em eleições. O conjunto dos eleitos, no entanto, está longe de representar a maioria do eleitorado, pertencente aos estratos pobres da população e à classe média. O que os mal chamados representantes do povo defendem, isto sim, são os interesses da minoria proprietária e empresária, a qual fornece, por meio de doações, nada menos que dois terços das receitas dos principais partidos políticos. Para se ter uma ideia da falsidade de nossa democracia representativa, basta assinalar um só fato: enquanto cerca de 40.000 produtores agrícolas, os quais exploram 50% das áreas cultiváveis do país, elegem de 120 a 140 deputados federais, os componentes das 4 a 6 milhões de famílias que praticam a agricultura familiar são representados no Congresso Nacional por no máximo 12 deputados.
Quanto às instituições da democracia direta – grande novidade do texto constitucional de 1988! –, elas só existem no papel. O art. 49, inciso XV da Constituição dispõe que “é da competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar referendo e convocar plebiscito”. Ou seja, o povo soberano somente poderá tomar diretamente decisões políticas, quando autorizado pelos seus representantes. Trata-se, sem dúvida, de uma original modalidade de mandato...
Enquanto persistir essa triste realidade, não teremos afastado a possibilidade de voltarem a ocorrer prolongados desmandos políticos, como o provocado pelo golpe de Estado de 1964.
Felizmente, a consciência pública começa aos poucos a se dar conta de que a única via de solução para esse impasse consiste em instituir no país um regime político de efetiva soberania popular, no qual haja a supremacia constante do bem comum do povo (a res publica romana) sobre todo e qualquer interesse particular, com controles permanentes sobre o exercício do poder em todos os níveis. Em suma, a criação de um autêntico Estado de Direito, Republicano e Democrático.
Não é difícil perceber o longo e difícil percurso que se abre diante das novas gerações, para alcançar esse objetivo. Mas o que importa é começar desde logo a dar os primeiros passos, no sentido da defesa intransigente da dignidade do povo brasileiro.
“Se as coisas são inatingíveis... ora!
Não é motivo para não querê-las...
Que tristes os caminhos, se não fora
A presença distante das estrelas!”21
26 de fevereiro de 2014