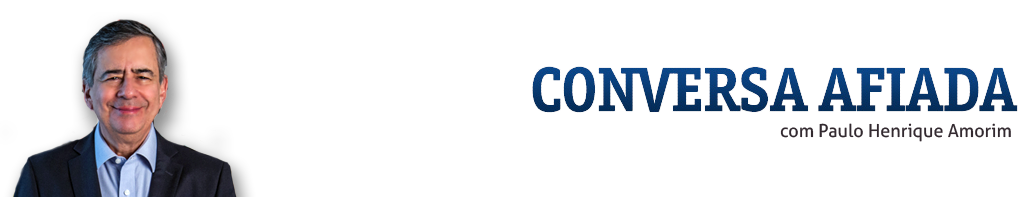Leblon: o exemplo da Islândia e a mão da democracia
O Conversa Afiada reproduz artigo de Saul Leblon, extraído da Carta Maior:
A mão da rua
Em sucessivos plebiscitos, a população islandesa decidiu deixar a banca quebrar, estatizou a sobra e colocou banqueiros na cadeia.
A Islândia é uma nação diminuta perto do Brasil, uma espécie de Santa Catarina de gelo, com população menor que a de Jundiaí. Apenas 320 mil habitantes.
Se é possível dizer que essas características lhe dão flexibilidade para soluções impensáveis aos ‘baleias’ -- viver de turismo e pesca, por exemplo -- também é verdade que o seu poder de barganha é infinitamente menor.
Guiar-se pelo imperativo dos mercados seria o previsível no seu caso, deixando-se levar de forma mais ou menos passiva pela maré dos interesses graúdos que dominam a cena global.
Não foi o que ocorreu na crise de 2008.
Driblar a fatalidade de uma receita de arrocho em condições de estresse econômico e político extremo, eis aí uma dimensão que conecta as singularidades dessa ilha polar às urgências dos trópicos nos dias que correm.
A crise mundial de 2008 pegou a economia e a sociedade islandesa no contrapé de uma vulnerabilidade extrema, confrontando-a, entre outros, com interesses bancários britânicos, alemães e holandeses.
A Islândia não tinha mais nada a perder – e isso não é retórico. A banca do país mergulhara de cabeça na farra financeira da década e havia acumulado o equivalente a uma dúzia de PIBs em operações e compromissos tornados impagáveis do dia para a noite.
Quando a ciranda parou de girar com a explosão da bolha imobiliária nos EUA, os credores externos – bancos europeus — quiseram empurrar a fatura para a população.
A ideia era transformar a Islândia num duto conectado à central de sucção da finança global, que assim resolveria a sua parte no imbróglio escalpelando a sociedade -- como de fato tem sido feito com vários outros países.
O pagamento seria em moeda sonante e em espécie: alguns milhares de dólares per capita em impostos, cortes de gastos, privações, privatizações, demissões e o que mais fosse necessário para servir ao principal e aos juros por longos dez anos a quinze anos.
A nota dissonante suficientemente conhecida é que a população islandesa não concordou.
Em vez de se entregar à mastigação ela resolveu ajustar a engrenagem a seu favor, e não aos desígnios da banca ou de seus acionistas.
Ao recusar o matadouro inverteu a sentença: em sucessivos plebiscitos, a população decidiu deixar a banca quebrar, estatizou a sobra e colocou banqueiros na cadeia.
Parecia um delírio no gelo, mas o vaticínio do fracasso devastador não se confirmou.
Ao contrário. Deu certo. E os dados mais recentes confirmam a vantagem do método em relação ao quadro de terra arrasada observado em sociedades que seguiram a receita oposta.
Essa é a notícia fresca na praça, pouco contemplada porém pela emissão conservadora.
A mão plebiscitária da democracia pode corrigir e ordenar uma transição de ciclo econômico melhor que a do mercado sozinha.
Isso é tão útil e carregado de atualidade numa hora em que a Grécia se rebela e o Brasil se depara com a encruzilhada do seu crescimento que fica a dúvida: por que o saldo favorável da experiência islandesa com a mão dupla não borbulha nas manchetes e escaladas do glorioso jornalismo de economia?
Um bom pedaço da explicação está justamente no fato de que os resultados exibidos pelos hereges afrontam a fatalidade que amparou e preserva a solução defendida pelo mainstream aqui e em todo o planeta.
Afinal, se ‘there is no alternative’, como dizia lady Tatcher, o melhor é esquecer o mau exemplo islandês.
As estatísticas do país mostram o inaceitável: há vida fora do limbo a que foram encurraladas as economias submetidas a ajustes tidos como mais consistentes e responsáveis.
Em todas elas – tirando a boa saúde da riqueza financeira -- os demais indicadores rastejam e escavam o fundo do abismo para o qual foram empurrados a partir de 2008..
Tome-se os resultados ilustrativos da Grécia em transe (25% de desemprego), Portugal (45% de aumento da pobreza nos últimos cinco anos), Itália (dívida de 130% do PIB) e Espanha (50% da juventude sem trabalho).
Invariavelmente é assim: os indicadores de pobreza, PIB, emprego, dívida pública e desempenho fiscal encontram-se muito mais deteriorados do que antes de dar entrada à UTI salvadora.
Ajuda a entender, talvez, cogitar que o tratamento de choque é para isso mesmo: para exaurir o organismo, sob monitoramento especializado, de modo a extrair dele o que se quer: a transfusão de riqueza aos mercados e credores.
No caso da Islândia aconteceu o oposto. Depois de amargar um retrocesso superior a 8% do PIB, em 2008, com taxas de desemprego explosivas de 12%, o país deu as costas aos mercados e voltou a crescer.
A estimativa para este ano é de uma expansão do PIB 3,5%, com uma taxa de desemprego que já recuou para um degrau confortável em torno de 3,5%.
A economia deixou de ser um guichê do sistema financeiro internacional e se voltou para seus poucos mas consistentes trunfos – sendo o turismo o principal deles, ao trazer anualmente um fluxo de um milhão de visitantes, três vezes o tamanho da população
Em um giro pela Europa esta semana, o presidente Olafur Ragnar Grimsson explicou aos jornalistas atônitos, a receita de sucesso do liliputiano universo islandês contra um mercado comandado por gullivers financeiros nada amistosos nem colaborativos.
‘Você tem que ter a economia em uma mão e a democracia na outra’, resumiu Grimsson ao El País.
Para ter a economia na mão, a Islândia, além de deixar quebrar e estatizar bancos, cometeu outras sugestivas heresias.
A primeira foi adiar seu processo de adesão ao euro ficando livre para manejar a própria moeda, drasticamente desvalorizada para atrair capitais, baratear exportações e fortalecer o turismo.
Sobretudo, porém, não hesitou em decretar um rigoroso controle de capitais impedindo que os fluxos especulativos fizessem da sua crise uma pista de pousos e decolagens de especuladores e chantagistas financeiros.
O controle de capitais islandês persiste; hoje estabelece cotas para a presença de fundos na economia como uma proporção do PIB, uma espécie de trava de segurança para salvaguardar o comando do país na mão da sociedade, e não dos circuitos financeiros voláteis.
Enfim, o que a pequena Islândia fez de muito anormal foi inscrever na própria engrenagem econômica o controle da nação sobre o dinheiro.
O que o exemplo das duas mãos do presidente Grimsson demonstra é que essa foi uma ação política, não uma fórmula técnica.
Expor o mercado ao diálogo direto com a democracia, leia-se, com o discernimento e as escolhas da sociedade, é o pulo do gato para escapar à rendição incondicional à chibata insaciável dos impulsos rapinosos.
A Islândia não descobriu a pólvora, mas teve a coragem de usá-la em proporções adequadas na hora certa, contra um alvo devastador.
Num mundo em que a ubiquidade das finanças desreguladas gera a crise e avia a receita para seus efeitos, sem espaço para uma segunda opinião, ela ousou mudar as instâncias ordenadoras do seu futuro até então capturadas pela insanidade financeira.
A metáfora do dirigente islandês, note-se, dirigente de um governo de centro direita, remete diretamente à encruzilhada brasileira.
Seu cerne é a questão do poder subjacente às escolhas políticas que se disfarçam em ciência econômica.
Aquilo que ele denomina ‘a mão da democracia’.
Engana-se quem supõe que a escolha islandesa envolvia grandezas singelas sendo por isso foi tolerada.
A quebra de seu sistema financeiro gerou um apreciável rombo da ordem US$ 85 a mais de US$ 100 bilhões nos credores europeus.
Quem pagaria a conta?
A resposta imediatamente sugerida pelo mercado teve o efeito de um choque de realidade no ambiente entorpecido de consumismo e crédito fácil vivido até então pela sociedade islandesa.
O país, como de resto o mundo, surfou durante anos de vento em popa num mar de liquidez irreal.
Em 2007 sua renda per capita estava entre as seis maiores do mundo. Um islandês tinha então um padrão de vida em dólar mais de 50% superior ao desfrutado por um norte-americano.
Nem a pesca do bacalhau, nem o turismo, sempre forte, explicavam o fastígio de consumo, luxo e certa ostentação dos ricaços.
Por trás do reluzente bisão de ouro estava a engenharia financeira que catapultou três modestos bancos locais ao grupo dos 300 maiores titãs do vale tudo financeiro mundial.
Como? Gerando uma imensa espuma de operações ancoradas na lógica das pirâmides, operações ‘apoiadas’ em prazos descasados, crédito abundante e sem lastro em reservas, promessas de rentabilidade descoladas da vida real, ações puxadas por operações fraudulentas de bolsa em triangulações bancárias, ademais de associações ilícitas entre governantes e banqueiros e outras modalidades e práticas de multiplicação da riqueza papeleira.
Em resumo, a Islândia entrou de cabeça na onda e virou a estação de esqui do malabarismo financeiro e especulativo.
Ativos inativáveis foram sendo empilhados para formar uma gigantesca torre de babel de temeridade financeira, cujo valor passou em poucos anos do equivalente a um PIB islandês para dois, três, quatro, cinco ...
Chegou a algo como doze vezes o PIB nacional, o que na prática inverteu a razão jurídica da sociedade: a Islândia era um sistema bancário que possuía um país, não o inverso.
Esse traço revelar-se-ia particularmente assertivo na esfera das relações políticas entre governantes e bancos.
Em setembro de 2008 essa metáfora do nosso tempo ruiu de uma só vez quando os credores chegaram no fim de festa com a conta, dispostos a espeta-la no lombo dos 320 mil islandeses de carne e osso.
Tangido pelos protestos, o governo que já havia se rendido convocou um plebiscito que decidiu por 93% não pagar a dívida e nacionalizar o sistema financeiro.
Uma nova consulta, em abril de 2011, agora cercada de pressões e terrorismo, ademais de certa suavização de imposições, teve mais de 60% de nova rejeição.
Não foi um processo linear.
Definitivamente, o capitalismo em crise não é um enredo de heróis inquestionáveis e virtudes angelicais.
A determinação dos islandeses na sua dramática viagem de volta ao próprio país conheceu revezes.
Um deles incluiu uma ida ao FMI no meio do caminho.
Mas o fato é que não se pagou os bancos e não se arrochou a sociedade para prover rentistas.
Banqueiros fraudulentos foram em cana e se fez um bem sucedido controle de capitais.
Hoje o país emerge como um solitário ponto de vitalidade em um cenário global que tem no impasse entre Grécia e Alemanha o retrato de um esgotamento de ciclo e de método, cuja superação dificilmente poderá prescindir das lições islandesas.
Uma delas soa particularmente pertinente a um Brasil enredado na complexa busca de um novo impulso de crescimento em meio à desordem mundial.
Até que ponto uma alternativa ao arrocho ensaiado por aqui é viável sem se recorrer à mão da democracia que tão bons serviços prestou aos islandeses?
A tarefa de ajudar a mão do mercado – reordenando-a a favor da sociedade -- não parece estar ao alcance, nem nas cogitações, da democracia representativa realmente existente no país.
Eduardo Cunha e o seu agendamento religioso homofóbico que o digam.
A Islândia conseguiu driblar essa armadilha graças ao arcabouço plebiscitário de uma democracia em que 1.500 assinaturas bastam para se convocar uma consulta popular.
O equilíbrio reiterado pelo presidente islandês entre as duas mãos derrapa quando esse extravasamento do poder para a rua é boicotado pelo intercurso da política com o numerário empresarial.
Ademais de erradicar o financiamento privado de campanhas, o Brasil precisa reforçar a mão da democracia na rua, se quiser um dia redesenhar sua travessia para um novo ciclo de desenvolvimento, sem delegar ao mercado a distribuição do seu custo.
Leia também: