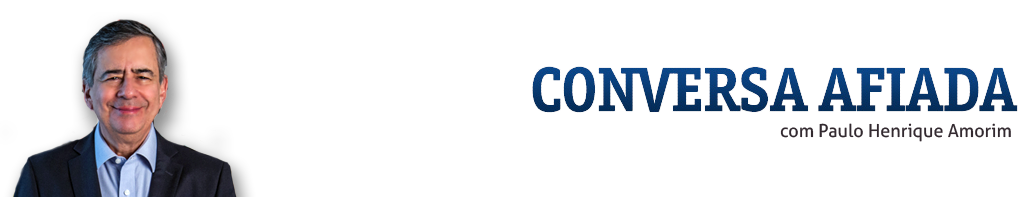Coimbra: 2016, um ano de eleição
Em 2015, oposição tentou de tudo. Menos aceitar a derrota
publicado
19/11/2015
Comments

O Conversa Afiada reproduz artigo de Marcos Coimbra, extraído da CartaCapital:
Um ano de eleição
Em 2016, o Brasil completará 30 anos de disputas municipais ininterruptas. Fato: elas têm pouca relação com a corrida presidencial
por Marcos Coimbra
Em seu estranho ritmo, que mistura o frenesi das elites com a calma do povo, a política brasileira chega a mais um ano eleitoral. Em menos tempo do que parece, realizaremos as eleições municipais de 2016.
Os sinais estão no ar: os pré-candidatos e seus patronos movimentam-se, pesquisas de intenção de voto são divulgadas, cálculos e especulações correm soltos.
É ótimo que seja assim. Nunca é demais lembrar quão excepcional, na história política brasileira, é o período no qual vivemos: em toda nossa trajetória, é a mais longa fase de normalidade democrática.
Para um país que teve seus primeiros cem anos de vida republicana entrecortados por golpes de Estado e ditaduras, é extraordinário o fato de estarmos perto de comemorar três décadas seguidas de eleições de prefeitos nas capitais e grandes cidades. Um período curto para nações democráticas, mas longo no nosso caso.
Essa salutar rotina passou o ano de 2015 sob ameaça. Se dependesse das manobras das oposições, políticas, sociais e na mídia, o calendário eleitoral seria inteiramente imprevisível, com todos os males que o fenômeno acarreta. Desde o dia seguinte à eleição presidencial de 2014, a única coisa que fizeram foi tentar virar a mesa.
Querem tudo: recontagem de votos, anulação da eleição, cancelamento do registro da candidatura vitoriosa, renúncia, impeachment, inviabilizar o governo, parar o País. Tudo menos aceitar a derrota.
A agitação das oposições contrasta com os sentimentos da vasta maioria da sociedade. Para os cidadãos comuns, a política acontece ao longe, em dimensão que todos sabem relevante, mas com a qual poucos se envolvem no cotidiano.
Não é assim apenas no Brasil. Mundo afora, salvo em um ou outro lugar onde a cultura política é de intensa mobilização, o mesmo acontece.
Nada indica que a eleição do próximo ano será diferente. A imensa heterogeneidade dos municípios brasileiros impede a prevalência de elementos mais gerais e o quadro que emerge da disputa assemelha-se sempre a uma colcha de retalhos muito díspares.
Perde tempo quem procura antecipar o “sentido” da eleição, compreender seu “recado” ou projetar a corrida presidencial seguinte à luz dos resultados.
Podemos estar certos de apenas umas poucas coisas. A primeira: as disputas municipais não são um tipo de “eleição de meio período”, como existe nos Estados Unidos e em outros países. Os eleitores não vão às urnas para “enviar sinais”, de apoio ou reprovação dos governadores ou do presidente.
O que fazem, unicamente, é procurar identificar o melhor candidato a prefeito de sua cidade, que se ocupará de questões tão mais relevantes quanto mais pobre for o eleitor.
A segunda é que, para a maioria do eleitorado, a eleição municipal é a escolha de um indivíduo. Apoios e endossos contam, mas raramente são decisivos.
É minoria a parcela que escolhe prefeitos por suas vinculações, principalmente com partidos, seja para se decidir em quem votar ou não.É majoritária a proporção daqueles que buscam entre os candidatos nítidos atributos administrativos.
A terceira é que a imagem nacional das legendas tem pouco a ver com sua performance nas eleições locais. Em 1996, com o PSDB anabolizado pelo Plano Real, os tucanos elegeram 16% dos prefeitos. Permaneceram quase do mesmo tamanho (14%) em 2008, quando Lula já estava no segundo mandato e governava com imensa popularidade.
No caso do PT, a tendência é parecida: fez 7,5% das prefeituras, em 2004, e demorou oito anos para chegar a 11%, em 2012, mesmo ao ganhar no intervalo, por duas vezes, a Presidência da República.
Pesquisa recente do Instituto Vox Populi traz elementos para se interpretar essa dissociação entre imagem nacional e voto municipal. Perguntados a respeito da possibilidade de votar em um candidato a prefeito do PT em 2016, pouco mais de um terço dos entrevistados respondeu que não havia “nenhuma” possibilidade, seja por nunca terem votado no partido, seja por estarem hoje decididos a não votar.
Cerca de 10% disseram que “votariam com certeza”, pois sempre votaram em candidatos a prefeito da legenda. E 50% responderam que “se o PT tiver um bom candidato ou candidata, poderiam votar nele ou nela”.
Isso vale da menor cidade do Brasil à megalópole São Paulo. Quem hoje vaticina a respeito da mais importante eleição de 2016 apenas contribui para aumentar o lixo de bobagens produzido sobre o assunto. De 1985 para cá, a eleição em São Paulo mandou para o cemitério um caminhão de teses desmentidas pelas urnas.
por Marcos Coimbra
Em seu estranho ritmo, que mistura o frenesi das elites com a calma do povo, a política brasileira chega a mais um ano eleitoral. Em menos tempo do que parece, realizaremos as eleições municipais de 2016.
Os sinais estão no ar: os pré-candidatos e seus patronos movimentam-se, pesquisas de intenção de voto são divulgadas, cálculos e especulações correm soltos.
É ótimo que seja assim. Nunca é demais lembrar quão excepcional, na história política brasileira, é o período no qual vivemos: em toda nossa trajetória, é a mais longa fase de normalidade democrática.
Para um país que teve seus primeiros cem anos de vida republicana entrecortados por golpes de Estado e ditaduras, é extraordinário o fato de estarmos perto de comemorar três décadas seguidas de eleições de prefeitos nas capitais e grandes cidades. Um período curto para nações democráticas, mas longo no nosso caso.
Essa salutar rotina passou o ano de 2015 sob ameaça. Se dependesse das manobras das oposições, políticas, sociais e na mídia, o calendário eleitoral seria inteiramente imprevisível, com todos os males que o fenômeno acarreta. Desde o dia seguinte à eleição presidencial de 2014, a única coisa que fizeram foi tentar virar a mesa.
Querem tudo: recontagem de votos, anulação da eleição, cancelamento do registro da candidatura vitoriosa, renúncia, impeachment, inviabilizar o governo, parar o País. Tudo menos aceitar a derrota.
A agitação das oposições contrasta com os sentimentos da vasta maioria da sociedade. Para os cidadãos comuns, a política acontece ao longe, em dimensão que todos sabem relevante, mas com a qual poucos se envolvem no cotidiano.
Não é assim apenas no Brasil. Mundo afora, salvo em um ou outro lugar onde a cultura política é de intensa mobilização, o mesmo acontece.
Nada indica que a eleição do próximo ano será diferente. A imensa heterogeneidade dos municípios brasileiros impede a prevalência de elementos mais gerais e o quadro que emerge da disputa assemelha-se sempre a uma colcha de retalhos muito díspares.
Perde tempo quem procura antecipar o “sentido” da eleição, compreender seu “recado” ou projetar a corrida presidencial seguinte à luz dos resultados.
Podemos estar certos de apenas umas poucas coisas. A primeira: as disputas municipais não são um tipo de “eleição de meio período”, como existe nos Estados Unidos e em outros países. Os eleitores não vão às urnas para “enviar sinais”, de apoio ou reprovação dos governadores ou do presidente.
O que fazem, unicamente, é procurar identificar o melhor candidato a prefeito de sua cidade, que se ocupará de questões tão mais relevantes quanto mais pobre for o eleitor.
A segunda é que, para a maioria do eleitorado, a eleição municipal é a escolha de um indivíduo. Apoios e endossos contam, mas raramente são decisivos.
É minoria a parcela que escolhe prefeitos por suas vinculações, principalmente com partidos, seja para se decidir em quem votar ou não.É majoritária a proporção daqueles que buscam entre os candidatos nítidos atributos administrativos.
A terceira é que a imagem nacional das legendas tem pouco a ver com sua performance nas eleições locais. Em 1996, com o PSDB anabolizado pelo Plano Real, os tucanos elegeram 16% dos prefeitos. Permaneceram quase do mesmo tamanho (14%) em 2008, quando Lula já estava no segundo mandato e governava com imensa popularidade.
No caso do PT, a tendência é parecida: fez 7,5% das prefeituras, em 2004, e demorou oito anos para chegar a 11%, em 2012, mesmo ao ganhar no intervalo, por duas vezes, a Presidência da República.
Pesquisa recente do Instituto Vox Populi traz elementos para se interpretar essa dissociação entre imagem nacional e voto municipal. Perguntados a respeito da possibilidade de votar em um candidato a prefeito do PT em 2016, pouco mais de um terço dos entrevistados respondeu que não havia “nenhuma” possibilidade, seja por nunca terem votado no partido, seja por estarem hoje decididos a não votar.
Cerca de 10% disseram que “votariam com certeza”, pois sempre votaram em candidatos a prefeito da legenda. E 50% responderam que “se o PT tiver um bom candidato ou candidata, poderiam votar nele ou nela”.
Isso vale da menor cidade do Brasil à megalópole São Paulo. Quem hoje vaticina a respeito da mais importante eleição de 2016 apenas contribui para aumentar o lixo de bobagens produzido sobre o assunto. De 1985 para cá, a eleição em São Paulo mandou para o cemitério um caminhão de teses desmentidas pelas urnas.