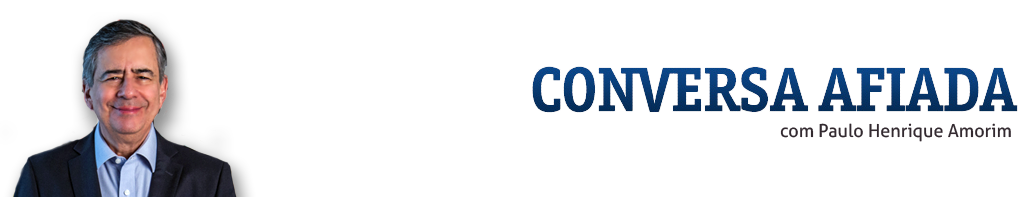Paris: a França trocou De Gaulle por Bush
Quem são "os dirigentes ocidentais" que realizaram a obra do Iraque?
publicado
23/11/2015
Comments

Sarkozy era o poodle francês
O Conversa Afiada reproduz agudo artigo do professor Dany-Robert Dufour, antes publicado no Mediapart, uma espécie da Conversa Afiada francês:
Por que eles fizeram isso ?
Dany-Robert DUFOUR, filósofo e professor da Universidade de Paris VIII em Saint-Denis
Meus filhos, meus alunos me perguntam : « Mas por que eles fizeram isso ? » “Isso”, é a carnificina na noite de sexta-feira, 13 novembro, em Paris. “Eles”, são os dijadistas, muitos deles nascidos na França e, apesar das dificuldades de integração, beneficiários dos serviços públicos da República francesa. Remeto meus interlocutores desamparados ao excelente artigo de meu colega de universidade e amigo, o psicanalista franco-tunisiano Fethi Benslama, publicado no Le Monde, exatamente 24 horas antes do horror acontecer, o que comprova sua inteligência premonitória: “Para os desesperados, o islamismo radical é um produto excitante”. Ele explica que a oferta dijadista captura jovens desorientados devido a lacunas identitárias importantes, oferecendo-lhes um ideal total qui preenche essas lacunas. Uma oferta que transforma o sujeito atormentado pelas dúvidas relativas a sua origem em um “autômato fanático”.
Fethi Benslama remonta esse desmoronamento identitário à queda do califado (1924), isto é, ao fim do último império islâmico. Daí resulta que muitos desses sujeitos se vêem desde então como herdeiros infames. Seguramente essa é uma lacuna imensa. Ora, ela me parece agravada por outras lacunas e penso que Fethi Benslama concordaria com isso. Uma dessas lacunas é bem anterior e data das dificuldades do Islã (que até a Idade Média muito contribuiu para a civilização) em integrar a virada do Iluminismo e da Modernidade. Outras lacunas são posteriores. Como o voto da ONU de 1947 que dividiu a Palestina em um Estado judeu e um Estado árabe que jamais aconteceu. E como a invasão de um grande Estado árabe, o Iraque, pela coalisão conduzida pelos Estados Unidos em 2003.
É necessário examinar esse último ponto porque o século XXI ainda não acabou de pagar pelas consequências da decisão de Georges W. Bush de fazer de Saddam Hussein o responsável pela destruição em 11 de setembro 2001 das torres gêmeas do World Trade Center, um dos símbolos da potência americana. Dito de outra maneira, o século iniciou-se tendo na base um enorme erro, a não ser que tenha sido uma manipulação estratégica monstruosa, que iria levar a uma série de efeitos derivados catastróficos.
Relembremos os fatos: 1) De fato, Saddam era um tirano, aliás do mesmo estilo daqueles que Washington sempre apoiou (por exemplo, Pinochet), mas ele não tinha nada a ver com a destruição das torres americanas (o serviço secreto americano sabia que ele não mantinha relações com Al-Qaïda); 2) a promessa de Bush, seguida por Tony Blair, entre outros, de levar a democracia ao Iraque (a operação chamava-se “Iraqi Freedom”) nada mais era que um slogan para ganhar adesão da opinião ocidental; 3) as provas invocadas para destruir o regime de Saddam se resumiram a inverdades grosseiras (ver as famosas “armas de destruição massiva” que, evidentemente, nunca foram encontradas). Tratou-se na realidade de uma montagem narrativa mal disfarçada, digna das piores formas marketing, essencialmente destinada a se apropriar da quarta reserva mundial de petróleo (não por acaso, é sabido que o próprio Bush e uma grande parte de seu governo eram diretamente ligados à indústria de petróleo).
Hoje se conhece o resultado catastrófico dessa intervenção: cerca de 500.000 mortos iraquianos, uma taxa de mortalidade que passou de 5,5 para 1000 antes da invasão para 13,2 depois da chegada dos americanos, um balanço sanitário desastroso (80% da água sem tratamento), um país devastado tomado por lutas religiosas de uma outra época... E, sobretudo, um laboratório para a formação de milícias dijadistas que sonham com a volta do califado, arregimentando todas as formas de vida humana e levando à fuga de milhões de pessoas “normais”. Essas milícias difundiram-se nos países vizinhos em guerra, como a Síria. Nesses países, acolheram, formaram e transformaram em terroristas aguerridos centenas de milhares de jovens vindos da Europa e de alhures, sofrendo da mesma lacuna identitária evocada por Fethi Benslama.
O mérito da França havia sido então de não se deixar embarcar nessa desastrosa expedição, apesar dos apelos insistentes de “intelectuais”, inclusive de esquerda ou quase, que se encontram hoje em uníssono com a Frente Nacional2, para denunciar os migrantes cujo enorme fluxo atual resulta diretamente da guerra que eles apoiaram. Ainda lembramos bem do discurso pronunciado pelo ministro do Exterior do governo Chirac, Dominique de Villepin, pronunciado na ONU em 14 de fevereiro de 2003, para dizer que a França não se juntaria à coalisão porque: “tal intervenção corria o risco de agravar as fraturas entre as sociedades, entre as culturas, entre os povos – fratura da qual se alimenta o terrorismo.”
Coloca-se então a questão de saber como a França, que havia demonstrado uma visão tão acertada, o que lhe valeu a ira persistente dos republicanos americanos, tornou-se hoje um dos alvos mais importantes do dijadismo. A resposta aparece com clareza desde que não se esqueça os dados da história: passamos de uma visão gaulista (formulada por De Gaulle) a uma posição atlantista. A visão gaulista não foi, na sua essência, questionada por Miterrand e continuou até Chirac. Este havia compreendido pelo menos duas coisas. Um dado exterior: não alinhamento com Washington. E um dado interior: o Estado francês deve levar em conta o fato de que cerca de 10% da população que ele administra é de origem árabe. O dado estratégico somado ao dado pragmático explicam as boas relações mantidas por Chirac com os dirigentes árabes.
A chegada de Sarkozy ao poder caracterizou-se por uma virada atlantista conotada de indecência quando se pensa na mensagem de condescendência submissa que foi passada a Bush. Concretamente, isto se traduziu na reintegração da França no comando integrado da Organização do Tratado do Atlântico Norte. De Gaulle havia anunciado a saída da França da OTAN em 21 de fevereiro de 1966. Sarkozy foi até Washington em 7 de novembro de 2007, para anunciar o retorno da França.
Ora, seu sucessor, François Hollande, nada fez para desviar dessa via atlantista. A tal ponto que o governo francês vai mais longe que a administração americana na defesa da política de Israel, a despeito da extensão considerável das colonias que segmentam o território palestino – uma tática grosseira, nada conforme à inteligência dos judeus que sempre souberam viver e conviver entre os outros, para impedir a formação de um Estado palestino, previsto expressamente pelas resoluções internacionais. Quanto ao Iraque, porque não deveríamos deixar os americanos assumirem as consequências da política desastrosa deles? Porque essa política criou um monstro, os dijadistas, esses sujeitos autômatos sem discernimento, sem pensamento, sem sentimentos humanos (ver o excelente romance 2084 de Sansal Boualem).
Hollande teria estado em seu papel ao reforçar consideravelmente a segurança do país e de suas populações. Mas ele quiz mais: fazer-se de chefe de guerra. Não seria a primeira vez que um chefe de Estado, encasquetado com sua baixa de popularidade, escolheria, consciente ou inconscientemente, a opção da guerra na esperança de fazer o povo voltar a segui-lo. Seja como for, Hollande acreditava estar fazendo uma guerra longínqua. E eis que que ela está aqui dentro.
Essa dupla virada atlantista contribuiu e muito para que a França e nossa Paris tão amada – a da Revolução de 1789, a da Comuna de 1871, a da Liberação de 1945, a de maio de 1968 – nossos jovens, meus filhos, meus alunos, amantes da vida, do pensamento, do amor, da festa, do riso de Charlie ou do rock do Bataclan, estejam agora sendo diretamente visados.
Tudo isso se pode dizer em uma frase: os dijadistas do Estado Islâmico são, do mesmo modo que os nazistas de ontem, loucos perigosos, mas alguns dirigentes ocidentais contribuiram para que eles assim se tornassem.
Meus filhos, meus alunos me perguntam : « Mas por que eles fizeram isso ? » “Isso”, é a carnificina na noite de sexta-feira, 13 novembro, em Paris. “Eles”, são os dijadistas, muitos deles nascidos na França e, apesar das dificuldades de integração, beneficiários dos serviços públicos da República francesa. Remeto meus interlocutores desamparados ao excelente artigo de meu colega de universidade e amigo, o psicanalista franco-tunisiano Fethi Benslama, publicado no Le Monde, exatamente 24 horas antes do horror acontecer, o que comprova sua inteligência premonitória: “Para os desesperados, o islamismo radical é um produto excitante”. Ele explica que a oferta dijadista captura jovens desorientados devido a lacunas identitárias importantes, oferecendo-lhes um ideal total qui preenche essas lacunas. Uma oferta que transforma o sujeito atormentado pelas dúvidas relativas a sua origem em um “autômato fanático”.
Fethi Benslama remonta esse desmoronamento identitário à queda do califado (1924), isto é, ao fim do último império islâmico. Daí resulta que muitos desses sujeitos se vêem desde então como herdeiros infames. Seguramente essa é uma lacuna imensa. Ora, ela me parece agravada por outras lacunas e penso que Fethi Benslama concordaria com isso. Uma dessas lacunas é bem anterior e data das dificuldades do Islã (que até a Idade Média muito contribuiu para a civilização) em integrar a virada do Iluminismo e da Modernidade. Outras lacunas são posteriores. Como o voto da ONU de 1947 que dividiu a Palestina em um Estado judeu e um Estado árabe que jamais aconteceu. E como a invasão de um grande Estado árabe, o Iraque, pela coalisão conduzida pelos Estados Unidos em 2003.
É necessário examinar esse último ponto porque o século XXI ainda não acabou de pagar pelas consequências da decisão de Georges W. Bush de fazer de Saddam Hussein o responsável pela destruição em 11 de setembro 2001 das torres gêmeas do World Trade Center, um dos símbolos da potência americana. Dito de outra maneira, o século iniciou-se tendo na base um enorme erro, a não ser que tenha sido uma manipulação estratégica monstruosa, que iria levar a uma série de efeitos derivados catastróficos.
Relembremos os fatos: 1) De fato, Saddam era um tirano, aliás do mesmo estilo daqueles que Washington sempre apoiou (por exemplo, Pinochet), mas ele não tinha nada a ver com a destruição das torres americanas (o serviço secreto americano sabia que ele não mantinha relações com Al-Qaïda); 2) a promessa de Bush, seguida por Tony Blair, entre outros, de levar a democracia ao Iraque (a operação chamava-se “Iraqi Freedom”) nada mais era que um slogan para ganhar adesão da opinião ocidental; 3) as provas invocadas para destruir o regime de Saddam se resumiram a inverdades grosseiras (ver as famosas “armas de destruição massiva” que, evidentemente, nunca foram encontradas). Tratou-se na realidade de uma montagem narrativa mal disfarçada, digna das piores formas marketing, essencialmente destinada a se apropriar da quarta reserva mundial de petróleo (não por acaso, é sabido que o próprio Bush e uma grande parte de seu governo eram diretamente ligados à indústria de petróleo).
Hoje se conhece o resultado catastrófico dessa intervenção: cerca de 500.000 mortos iraquianos, uma taxa de mortalidade que passou de 5,5 para 1000 antes da invasão para 13,2 depois da chegada dos americanos, um balanço sanitário desastroso (80% da água sem tratamento), um país devastado tomado por lutas religiosas de uma outra época... E, sobretudo, um laboratório para a formação de milícias dijadistas que sonham com a volta do califado, arregimentando todas as formas de vida humana e levando à fuga de milhões de pessoas “normais”. Essas milícias difundiram-se nos países vizinhos em guerra, como a Síria. Nesses países, acolheram, formaram e transformaram em terroristas aguerridos centenas de milhares de jovens vindos da Europa e de alhures, sofrendo da mesma lacuna identitária evocada por Fethi Benslama.
O mérito da França havia sido então de não se deixar embarcar nessa desastrosa expedição, apesar dos apelos insistentes de “intelectuais”, inclusive de esquerda ou quase, que se encontram hoje em uníssono com a Frente Nacional2, para denunciar os migrantes cujo enorme fluxo atual resulta diretamente da guerra que eles apoiaram. Ainda lembramos bem do discurso pronunciado pelo ministro do Exterior do governo Chirac, Dominique de Villepin, pronunciado na ONU em 14 de fevereiro de 2003, para dizer que a França não se juntaria à coalisão porque: “tal intervenção corria o risco de agravar as fraturas entre as sociedades, entre as culturas, entre os povos – fratura da qual se alimenta o terrorismo.”
Coloca-se então a questão de saber como a França, que havia demonstrado uma visão tão acertada, o que lhe valeu a ira persistente dos republicanos americanos, tornou-se hoje um dos alvos mais importantes do dijadismo. A resposta aparece com clareza desde que não se esqueça os dados da história: passamos de uma visão gaulista (formulada por De Gaulle) a uma posição atlantista. A visão gaulista não foi, na sua essência, questionada por Miterrand e continuou até Chirac. Este havia compreendido pelo menos duas coisas. Um dado exterior: não alinhamento com Washington. E um dado interior: o Estado francês deve levar em conta o fato de que cerca de 10% da população que ele administra é de origem árabe. O dado estratégico somado ao dado pragmático explicam as boas relações mantidas por Chirac com os dirigentes árabes.
A chegada de Sarkozy ao poder caracterizou-se por uma virada atlantista conotada de indecência quando se pensa na mensagem de condescendência submissa que foi passada a Bush. Concretamente, isto se traduziu na reintegração da França no comando integrado da Organização do Tratado do Atlântico Norte. De Gaulle havia anunciado a saída da França da OTAN em 21 de fevereiro de 1966. Sarkozy foi até Washington em 7 de novembro de 2007, para anunciar o retorno da França.
Ora, seu sucessor, François Hollande, nada fez para desviar dessa via atlantista. A tal ponto que o governo francês vai mais longe que a administração americana na defesa da política de Israel, a despeito da extensão considerável das colonias que segmentam o território palestino – uma tática grosseira, nada conforme à inteligência dos judeus que sempre souberam viver e conviver entre os outros, para impedir a formação de um Estado palestino, previsto expressamente pelas resoluções internacionais. Quanto ao Iraque, porque não deveríamos deixar os americanos assumirem as consequências da política desastrosa deles? Porque essa política criou um monstro, os dijadistas, esses sujeitos autômatos sem discernimento, sem pensamento, sem sentimentos humanos (ver o excelente romance 2084 de Sansal Boualem).
Hollande teria estado em seu papel ao reforçar consideravelmente a segurança do país e de suas populações. Mas ele quiz mais: fazer-se de chefe de guerra. Não seria a primeira vez que um chefe de Estado, encasquetado com sua baixa de popularidade, escolheria, consciente ou inconscientemente, a opção da guerra na esperança de fazer o povo voltar a segui-lo. Seja como for, Hollande acreditava estar fazendo uma guerra longínqua. E eis que que ela está aqui dentro.
Essa dupla virada atlantista contribuiu e muito para que a França e nossa Paris tão amada – a da Revolução de 1789, a da Comuna de 1871, a da Liberação de 1945, a de maio de 1968 – nossos jovens, meus filhos, meus alunos, amantes da vida, do pensamento, do amor, da festa, do riso de Charlie ou do rock do Bataclan, estejam agora sendo diretamente visados.
Tudo isso se pode dizer em uma frase: os dijadistas do Estado Islâmico são, do mesmo modo que os nazistas de ontem, loucos perigosos, mas alguns dirigentes ocidentais contribuiram para que eles assim se tornassem.